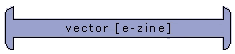b #22
Jan.09
|
Seminários Internacionais Museu Vale III Edição
“...e para que poetas em tempo indigente?”
Título da mesa: Por que arte? – Março de 2008
Embora tenha aceito com entusiasmo participar desta III edição dos Seminários Internacionais, promovida pelo Museu Vale, estranhei o título do evento porque percebi nele certo travo de desesperança frente ao presente da arte. Sensação reiterada pela leitura dos temas das mesas: “A indigência de nosso tempo” e “Para que arte hoje”. Se essas denominações tiveram como propósito a mobilização para o debate, no meu caso o alvo foi atingido.
Professor há quase três décadas, seria para mim paradoxal acreditar na inutilidade dos poetas, em tempos indigentes, presentes ou futuros. Se acreditasse nisso não teria razão para continuar no trabalho de formação de novas gerações de artistas e estudiosos da arte e já teria parado de refletir sobre o campo artístico, sobretudo o brasileiro.
Foi, portanto, como uma resposta a essas “provocações” do Seminário que tomei como objeto desta fala a produção de um coletivo paulista, formado por três jovens ainda com idades entre 23 e 24 anos. Assim intitulei minha comunicação: “Porque arte. O caso suwud”. Espero que já a partir deste título fique revelado que não me percebo vivendo em um tempo indigente, apesar de toda indigência à nossa volta. E assim não me percebo porque, trabalhando com jovens e, ao lado deles, a luz que deles emana ilumina o meu caminho profissional, fazendo-me enxergar perspectivas menos turvas para o futuro.
Para contextualizar esse coletivo pontuo tópicos ainda não muito claros sobre a arte das últimas décadas. Tal contextualização, no entanto, não deve fazer supor que no final desta fala os membros do coletivo sejam elevados à condição de heróis. Não me agradam textos sobre arte voltados para a glorificação de artistas. O suwud é aqui estudado como uma prova, entre muitas, de que enquanto a minha geração – e aquelas ainda mais velhas –, discute e se deprime – e às vezes se desespera frente o aparente caos que nos rodeia –, os jovens se atiram no mundo e tentam entendê-lo, transformando-o. No amplo campo da arte atual esses jovens seguem produzindo, e nessa produção, fundamentalmente não-conformista, reafirmam posturas críticas que me fazem acreditar na pertinência da arte nesses tempos. Pelo menos o tipo de arte que o suwud e parte de sua geração produzem.
Estabelecidas essas premissas, começo propriamente a minha fala.
*
O panorama atual da arte apresenta duas vertentes gerais: de um lado temos aquelas produções que ainda reivindicam o caráter único do objeto de arte, a importância da autoria e, por sua vez, todo o aparato institucional que as sustentam (galerias, museus, colecionadores, etc.); por outro lado, temos outras produções que embaralham esses conceitos tão caros à arte ocidental, mergulhando cada vez mais em áreas que se distanciam de qualquer conceito de arte ligado à tradição estética européia que nos formou – ainda hegemônica – ao mesmo tempo prescindindo, em grande parte, de todo o aparato institucionalizado criado por essa mesma tradição.
Embora atento aos aspectos preconceituosos de alguns posicionamentos de autores como o norte-americano Arthur Danto e o alemão Hans Belting2, tendo a concordar com ambos quando atestam o final do conceito ocidental de arte tradicional, localizando este fim a partir do final da II Grande Guerra. Danto e Belting atestam esta situação após outros autores – talvez com menor poder de propagação de suas idéias –, já terem, décadas atrás, chamado a atenção para o fato. Refiro-me ao brasileiro Mário Pedrosa3 e ao italiano Giulio Carlo Argan4 que, embora não tenham decretado claramente o “fim da arte”, detectaram o colapso do conceito universalista da arte ocidental.
Atentos às proposições desses autores, percebemos que o que os motivou a elaborarem esses conceitos “finalistas” foram produções artísticas que, entre os anos de 1960 e 1970, desestruturaram aqueles conceitos tão caros à arte ocidental, alguns aqui já citados (a obra única; o conceito de autor; a especificidade de linguagens, etc.). Essas produções, destruidoras desses pressupostos quase sagrados, elevaram o objeto comum à condição de arte, diminuíram a importância do caráter único da obra, minimizaram os aspectos autorais e enfatizavam as questões comportamentais e cênicas da arte contemporânea. Eles, de fato, comprometeram todas as bases da arte ocidental.
Restringindo o problema à contribuição de Mário Pedrosa, pode-se dizer que, atento às proposições de Helio Oiticica e Lygia Clark, o crítico conclui que seria impossível continuar definindo a produção desses e de outros artistas dentro dos parâmetros estabelecidos de arte moderna (entendida como continuação da “grande” arte ocidental). Assim, no início dos anos de 1970, cunha o termo “pós-moderno” para identificar e diferenciar as propostas daqueles artistas frente à tradição de cunho modernista.
Se compararmos as produções de Oiticica e Clark com a de outros artistas nacionais e internacionais dos anos de 1960, perceberemos que, devido à sua radicalidade, eles problematizaram ainda mais os postulados que estruturavam o conceito de arte ocidental. Ambos minimizaram, ou mesmo superavam as questões do objeto único e da autoria, sobretudo pela ênfase que deram à participação do espectador em suas propostas. Outro dado fundamental é que, nelas, justamente pela ênfase dada ao antigo espectador – agora “participador” –, o objeto artístico, ou aquilo que poderia ser encarado como tal, acabou assumindo um papel secundário, meramente “relacional”, ou seja, um simples instrumento de relação entre o indivíduo – o “participador” -, e o outro e o mundo da experiência.
Se aglutinarmos os parangolés e outras propostas de Oiticica ao conceito de “objetos relacionais” – cunhado para o entendimento de certos objetos usados por Clark em suas proposições –, veremos que tanto os objetos de Oiticica quanto os dela não passavam de instrumentos destituídos de qualquer valor de culto, e menos importantes, portanto, do que os indivíduos que deles se utilizavam para realizar as ações. Os objetos usados em suas proposições não possuíam nenhuma pretensão de perpetuarem-se como obras passiveis de serem reduzidas à condição de mercadorias – um golpe no âmago de todo o circuito de arte capitalista5.
*
As referências aos autores citados e às produções de Oiticica e Clark foram aqui estabelecidas com um único propósito: iniciar a demonstração de que, dos anos de 1960 até o presente, o conceito de arte tornou-se ainda mais complexo, abrindo-se para possibilidades naquela época ainda insuspeitas. Se naqueles anos mais próximos do final da II Grande Guerra vimos enfraquecerem os parâmetros da “grande” arte ocidental, vivenciamos hoje uma situação em que tudo pode ser considerado arte.
Hoje, até mesmo aqueles instrumentos utilizados nas proposições mais dessacralizadoras de Oiticica e Clark, já foram absorvidos como objetos “estéticos”. É certo que os parangolés de Oiticica e os objetos relacionais de Clark resistem a serem absorvidos como tal. Despidos de suas funções originais e mostrados atualmente em redomas de vidro ou acrílico (ou pior, em cabides!), expressam com certa galhardia uma recusa ao consumo estetizante do mercado. Mas este, assim como a produção dos êmulos de Oiticica e Clark, não estão nem aí para essa recusa, e os absorvem sem dó nem piedade.
Passadas essas décadas, o circuito atual quer nos fazer crer que tudo pode ser arte, mesmo aqueles objetos relacionais, pensados originalmente como propostas negativas dos conceitos estabelecidos de arte. De uma pintura considerada dentro dos mais estritos rigores modernistas a uma pilha de fotos lacradas entre chapas de vidro; de uma intervenção em uma grande cidade como Paris a uma escultura abstrata produzida em mármore; de um delicado bordado contando cenas de estupro a uma produção no âmbito da internet, tratando de questões raciais, e veiculada na própria rede, tudo pode ser absorvido nesta categoria.
*
Esta situação deixou perplexos muitos estudiosos e, diante dessas inúmeras de possibilidades, muitos se refugiam em um ou em outro nicho, despreocupados em entender – mesmo que parcialmente –, o que se passa nos nichos ao lado e nos inúmeros casos de contaminações entre eles e entre os posicionamentos conservadores e transformadores que os informam.
Presos nesses pequenos territórios de especialidades, a maioria não reflete, por exemplo, sobre como as novas gerações se posicionam perante esse quadro tão complexo que elas não criaram, mas que o enfrentam e com ele interagem muitas vezes com resultados estimulantes.
Para situar a atuação do suwud, não proponho mapear a produção dos jovens artistas, embora este texto parta do princípio de que pelo menos uma parcela dessa geração trará um enfoque diferenciado para o campo da arte, sobretudo no que diz respeito ao uso criativo das novas tecnologias.
Partindo das conquistas alcançadas pelos artistas que, nas décadas de 1960/1970, romperam com as paredes do museu para realizarem suas produções (os partidários dos site specifics) e com a ditadura do objeto de arte fechado em si mesmo (os partidários da arte conceitual desmaterializada, da mailart, e aqueles que começavam a usar tecnologias de ponta)6, essa nova geração tende a não produzir mais aquilo que entendemos como “objetos de arte”, mas “situações”, difíceis de serem classificadas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo sistema artístico convencional.
No entanto, mesmo atuando nas bordas do circuito de arte instituído, suas produções atualizam e, a meu ver, conseguem disparar, finalmente, o tiro de misericórdia que vários artistas ligados às vanguardas e às neovanguardas quiseram dirigir ao objeto de arte e à sua condição de mercadoria.
Se nos períodos anteriores esses ataques foram aos poucos sendo neutralizados pela paulatina recuperação desses objetos aos domínios da arte instituída, “situações” como algumas propostas por esses jovens, sobretudo no âmbito da internet, parecem impossibilitar qualquer processo posterior de que elas venham a ser resgatadas como “objetos de arte”, no sentido mercadológico tradicional.
*
Tomando como base o caráter multifacetado do campo da produção artística atual, e mapeando o advento e institucionalização do fenômeno de junção entre produção artística e novas tecnologias de produção/circulação de imagens, este texto refletirá sobre a prática do suwud na internet, por entender que o coletivo produz alternativas para o uso criativo e ao mesmo tempo crítico dessa ferramenta. Mais especificamente o interesse aqui é discutir uma de suas produções concebida e veiculada pela internet : o Googorama.
Não faz muito tempo, a Google, também possuidora do software Google Earth (http://earth.google.com/), adicionou ao seu site Google Maps (http://maps.google.com/) uma funcionalidade chamada de Street View. Ela consiste na documentação fotográfica de (por enquanto) algumas cidades norte-americanas, por meio de automóveis que, em suas capotas, possuem um dispositivo automático contendo várias câmaras fotográficas que, enquanto o veículo trafega pelas ruas das cidades, vão mecanicamente documentando todos os aspectos das ruas, avenidas, praças, becos e, inclusive, os transeuntes, sem nenhuma participação humana direta.
Tanto o Google Maps quanto o Street View são exercícios explícitos de vigilância que, no entanto, são "vendidos" ao público usuário da internet como mais um serviço destinado à localização de logradouros públicos. Apesar dessa estratégia de apresentar-se como um serviço pacífico, deles emana um viés totalitário indisfarçável.
O suwud, apropriando-se de imagens da cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, contidas no Street View, criou um portfolio virtual com 18 imagens.
A apropriação das imagens e a configuração do portfolio explicitam uma característica típica de todas as imagens escolhidas pelo coletivo e de todas as outras fotografias contidas no site em questão: elas obedecem a padrões estéticos da tradição moderna da fotografia ligados a um gênero da straight photography7, conhecido como street photography8.
Realizado o portfolio, este foi veiculado dentro da rede, ganhando certa ressonância em fóruns de discussão sobre fotografia na internet.
Estudo esse trabalho por dois motivos: em primeiro lugar, porque me interessa entender como esse coletivo consegue trazer à tona, comentar e desestruturar questões tão caras à arte moderna (e ainda presente nos universos institucionalizados da arte e da fotografia fine arts) – a autoria, o olhar do artista, a importância do artesanal na arte, etc. –, reutilizando estratégias caras a determinadas correntes da arte do século passado. Refiro-me a algumas estratégias típicas da produção dadaísta e neodadaísta, como os princípios de apropriação e de deslocamento, que corrompem a ordem do discurso hegemônico da arte, demonstrando o quanto essa pode ser entendida como manifestação do discurso do poder.
Muitos afirmarão que as estratégias usadas pelo suwud já foram devidamente recuperadas e institucionalizadas na arte do pós-guerra. Eu mesmo chamei a atenção aqui para como as propostas de Oiticica e Clark vêm sendo absorvidas avidamente pelo mercado. Porém, gostaria de chamar a atenção para um fato que, a meu ver, é crucial, pois traz um dado novo para a pertinência do uso dessas estratégias na cena contemporânea: originário, desenvolvido e divulgado pela internet, Googorama dá um novo alento às estratégias críticas herdadas do dada e das vertentes neodadaístas, justamente pela dificuldade, ou mesmo pela impossibilidade, dessa proposta ser reduzida à qualidade de objeto, e, portanto, de mercadoria – processo a que foram submetidas as fotomontagens dadaístas e os objetos relacionais de Lygia Clark, para ficarmos apenas em dois exemplos.
Em segundo lugar, interesso-me por essa proposta do coletivo pela seguinte questão: o Googorama, constituindo-se apenas enquanto informação, sem nenhuma existência material, quando é distribuído na própria rede, imediatamente torna-se fonte para debate; o resultado dessas primeiras recepções é nova informação que se acopla à proposição original do suwud, que imediatamente receberá outra informação que também será agregada às demais, e depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente.
Compreender, por meio do Googorama, que, pensar a arte como informação na internet, é vivenciar em “tempo real” aquilo que, faz alguns anos, Giulio Carlo Argan escreveu sobre o fato de que uma obra de arte é a sua realidade e tudo aquilo que todas as gerações pensaram sobre ela através da história9. Em um tempo acelerado como o que vivemos hoje, trabalhos que já não possuem mais suporte material – constituindo-se como informação sempre em processo de transformação –, atualizam a definição do estudioso italiano. Esses novos trabalhos configuram um desafio para todos que, vindos de uma formação tradicional no campo da história da arte, deparam-se com essas novas possibilidades para pensar a arte.
*
Existem dois tipos de profissionais que operam com as tecnologias mais recentes de produção/difusão de imagens. Em primeiro lugar estariam aqueles cujas discussões não atestam uma interação, por assim dizer, plena com as tecnologias que exploram. É como se eles operassem sempre “de fora”, sempre aquém de uma relação mais totalizadora com essas máquinas.
Muitos desses artistas objetivam ainda explicitar as “potencialidades estéticas” dessas novas ferramentas como se elas fossem novas, mas tradicionais modalidades artísticas (que engrossariam aquele tradicional grupo encabeçado pelo desenho, a pintura, a escultura...), e suas produções dificilmente escapam do universo da explicitação ou ilustração de determinados efeitos, do caráter “expressivo” desses novos meios, apontando o que de artisticamente convencional eles podem acrescentar ao universo já estereotipado da arte.
Além dessas produções que já configuram uma espécie de “tradição” – sacramentada pelo aparato institucional em que muitas são produzidas –, existe um segundo grupo de produtores que traz outras questões para se pensar as possibilidades da arte hoje, tendo as novas tecnologias como ponto de interesse.
Composto por artistas em sua maioria ainda jovens, o que difere esse grupo é o fato de que seus integrantes praticamente nasceram utilizando esses novos instrumentos. Desde crianças esses aparelhos integraram suas vidas, e o manejo dos mesmos, em muitos casos, fez parte da aprendizagem/aquisição dos códigos mais gerais de comunicação com o mundo.
A difusão do telefone celular, das câmaras digitais, da internet, e outras ferramentas, encontrou muitos produtores já socialmente estabelecidos e reconhecidos como artistas, o que os levou, muitas vezes, a explorar primeiro as “potencialidades estéticas” desses novos aparelhos, antes que eles fizessem parte propriamente de suas vidas cotidianas.
Para um jovem, no entanto, utilizar uma máquina de vídeo, fotografar com um celular ou navegar na internet nunca teve o mesmo peso que teve para seus antecessores. Antes de integrar o campo da exploração criativa entendida como “arte”, essas atividades o ajudaram a perceber o mundo e com ele interagir. Tal familiaridade possibilitou, ou tem possibilitado que, em muitos casos, a produção desses jovens se articule com um grau de intimidade surpreendente entre operador e ferramenta, com a mesma naturalidade com que os artistas que antigamente usavam o lápis para desenhar.
*
O que se nota em parte significativa da produção dessas novas gerações é, em primeiro lugar, a perda de interesse pela análise e explicitação das possibilidades “expressivas” desses novos meios. Por simplesmente não pensarem mais a partir apenas de um ponto de vista tradicionalmente “artístico” – atento apenas à integridade formal da obra “acabada” – e muito mais preocupados em relação às potencialidades informacionais e críticas de suas atividades, esses jovens buscam outros problemas para explorar.
É vidente que, em suas produções, eles investigam as potencialidades sintáticas e semânticas dessas novas tecnologias, mas tais indagações sempre são realizadas por camadas, uma vez que a utilização de uma modalidade de produção de informação (a fotografia, por exemplo), esbarra, e comumente penetra, em outras (a possibilidade de acoplar som às imagens fotográficas, por exemplo), devido à hibridação que as une. Uma vez que, comumente, está fora do interesse produzir qualquer trabalho de cunho analítico, típico do modernismo apenas preocupado com a forma, as explorações tendem a dar-se com maior liberdade, sem o interesse de estarem fazendo “arte”, no sentido tradicional do termo.
*
Criado no final de 2005, o suwud é composto por dois físicos formados pela USP e por um aluno do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes daquela Universidade. Os três possuem interesses variados que vão da programação de software à iluminação teatral, passando pela filosofia, artes plásticas, marcenaria, fotografia e outras áreas.
O coletivo não se caracteriza apenas por trabalhos realizados na internet, ou por outros meios “imateriais” (como o vídeo, por exemplo), pois é perceptível seu interesse por ações envolvendo intervenções em espaços reais, com a criação de lugares/situações específicos, em que a participação do público é fundamental.
Dentro dessas atividades, chamaria a atenção para uma série de trabalhos – Estrutura, Hotel Laboratório e Ponte – em que o suwud constrói uma espécie de torre-escada que se molda aos espaços onde a estrutura é montada e desmontada, contando com a participação de atores/bailarinos e do público.
Nesse mesmo universo, em novembro de 2007 o coletivo propôs, para uma exibição na Galeria paulistana Emma Thomas, uma atividade chamada “fato 1”: o suwud tatuou um pequeno ponto negro em 49 voluntários, em partes do corpo escolhidas pelo próprio tatuado. Após a ação, o coletivo distribuiu um documento aos participantes com a figura de um corpo humano desenhado de frente e de trás, tendo assinalado o local em que o portador de tal documento foi tatuado. Segundo um de seus integrantes:
“Esse foi o fato "1". Pretendemos fazer uma série de fatos, todos diferentes. Assim, tatuar as pessoas não é o assunto principal do trabalho (outras idéias para futuros “fatos” são: meditação, churrasco, luta livre etc.). Não consideramos esse trabalho uma performance [no sentido tradicional] pois o que nos interessa não é a ação de, por exemplo, tatuar 49 pessoas; mas a condição do fato sempre estar no passado. Assim, a proposição de criar um fato é paradoxal, já que enquanto estamos fazendo a ação o fato ainda não existe; e quando acabamos a ação, o fato já é memória. Talvez fazer os fatos seja fazer memórias. É um trabalho que só existe na memória do participante, ou no documento. O documento serve também para validar e comprovar que a memória do participante é real”.10
Todas essas ações são documentadas em vídeo pelo próprio coletivo que – tanto o material gravado como matéria-prima – pode ou não desenvolver edições específicas, com certa transcendência do estado de mero registro das ações, para se assumirem como obras autônomas11.
Em paralelo, o suwud também produz vídeos a partir de idéias/roteiros sem base propriamente documental e que podem ser veiculados diretamente na rede ou então em instalações em espaços convencionais de exposição.
*
É neste variado campo de atividades, portanto, que se enquadram a intervenções do coletivo na internet, a começar pelo próprio site do suwud – http://suwud.com.
O interesse do suwud pela internet, como expressa um de seus integrantes, não surgiu pelo desejo específico de fazer algo como web art ou “arte pela internet”. A relação que os produtores desta geração mantém com esse meio, como salientado, possui uma “naturalidade” difícil de ser encontrada em pronunciamentos de artistas mais velhos. Sobre o assunto, um dos integrantes do coletivo declara:
“No que diz respeito ao suwud, acho que os nossos próprios históricos são bastante indicativos do motivo de nosso interesse nessas tecnologias. Eu e o Ricardo, além de, claro, termos nos exposto muito a isso na faculdade, [Roberto Winter e Ricardo Birman fizeram Física na USP] já tínhamos um grande contato com computadores desde a infância. Meus pais são professores da USP e por isso (acredito eu) já tinha acesso a computadores, internet e todo esse tipo de coisa muito cedo (a primeira página que fiz na internet foi em 1996, o que espanta até a mim quando penso a respeito). O Ricardo tinha um grande interesse por programação, que foi bastante incentivado pela mãe dele (até o que eu sei) desde antes dele entrar no colégio. O Pedro, só pelo contato com o Ricardo [Pedro e Ricardo são irmãos] também arriscaria dizer que já estava se interando desses assuntos bem cedo. Acho que por isso tudo, nem nos preocupamos em, por exemplo, "fazer um trabalho que lide com internet" ou coisa do gênero, isso acontece naturalmente pois estamos imersos nesse ambiente”.12
Um coletivo que, como foi mencionado, se manifesta através de vários mídias, a questão das especificidades dos meios (dentro de uma perspectiva ainda modernista) não está dentro de sua pauta principal, muito embora ela apareça como uma espécie de “resíduo” dentro da concepção/realização dos trabalhos. Instigado a responder sobre o fato do suwud preocupar-se com este assunto, o mesmo participante do coletivo responde:
“Acho que a resposta é, ao mesmo tempo, sim e não. Ou seja, não estamos preocupados em explorar as 'especificidades' do meio pois, primordialmente, nos interessa (ao suwud) a especificidade que as coisas tem em si mesmas e não a especificidade como aquela coisa modernista de um programa de exploração de uma característica através de uma certa insistência nela (como, por exemplo, um conjunto de obra todo voltado à compreensão da 'superfície do quadro').
Esclareço com um exemplo: em Estrutura não nos interessa mostrar ou elucidar características (especificidades) de "estruturas", mas sim especificidades daquela estrutura (a que está ali, montada na sua frente, pela qual o seu corpo transita, etc.). Acho que nesse sentido, essa especificidade abrange também a modernista. É como se ela viesse por tabela e por isso diria vez que "sim, estamos, inevitavelmente, preocupados em explorar as 'especificidades' do meio": ao apresentarmos uma estrutura cujo interesse é a própria estrutura acabamos tocando em aspectos de "estruturas"13.
No caso específico do uso da rede, a problemática das especificidades ganha inúmeras possibilidades críticas devido, sobretudo, ao caráter híbrido do próprio meio. Pelo menos em tese, a internet obriga aquele que com ela opera a deparar-se com várias “especificidades” (a da fotografia, do vídeo, do texto, etc.), com elas articulando operações conjuntas simultâneas e/ou seqüenciais para alcançar – ou encontrar! – seus objetivos. No entanto, para essa nova geração de artistas – ou pelo menos para os integrantes do suwud –, o dado principal no trabalho em da rede não é esse tipo de especificidade (embora ele exista). O que parece interessá-los é a especificidade da informação que se manifesta através daquele meio e com a qual o coletivo opera.
Segundo um de seus integrantes:
“A tecnologia cria novos problemas a serem contemplados. Penso que nossos trabalhos exploram algumas especificidades de coisas mais básicas. Por exemplo, a comunicação, ao invés dos aparelhos de comunicação. A tecnologia muitas vezes somente facilita certos procedimentos que já existiam anteriormente. Um serrote e uma serra elétrica fazem a mesma coisa, porém um é capaz de fazer um corte bem mais rápido do que o outro. Assim, me parece que poucas vezes ficam claras as diferenças entre as tecnologias, que podem ser entendidas como especificidade de cada uma.
Voltando ao meu exemplo: em um serrote manual o movimento que a serra faz é para frente e para trás; já em uma serra elétrica, o movimento da serra é circular. Esses detalhes de funcionamento divergem do ponto de vista mecânico, porém produzem um resultado semelhante. É possível que se trabalhe a especificidade da tecnologia neste aspecto, mas acho que o suwud lida mais com o resultado produzido pela ferramenta do que com os detalhes mecânicos. E isso talvez se dê pelo fato de termos, sim, certa intimidade com os instrumentos que trabalhamos”14.
Sobre o Googorama, os integrantes do coletivo também possuem um ponto de vista peculiar, parecendo não estar preocupados com o fato do trabalho ser ou não ser uma obra de artnet ou mesmo de “arte”:
“... quando fizemos o trabalho, a vontade que tínhamos era a de simplesmente revelar o que era o google street view. E, ao selecionar algumas imagens, e agrupá-las era possível entender melhor o que era aquilo em que estávamos navegando, esse mundo de fotografias tão estranhas. O google street view é uma grande fotografia com 3 dimensões. Algo totalmente novo e incrível. Nossa intenção inicial era a de simplesmente mostrar, entender e discutir o que era aquilo que estava à nossa frente. Essa talvez seja uma característica fundamental do suwud. A maioria das vezes nós somente estamos tentando entender as coisas que estão à nossa volta, sem agregar complexidade ao enorme caos que já é o mundo.
Em outro depoimento, o mesmo integrante volta a se manifestar sobre o Googorama:
Tirar uma fotografia de uma foto é um procedimento um tanto interessante.O gesto redundante de tirar uma fotografia de uma foto faz com que o significado visual original da foto se esvazie. A diferença entre as duas fotos é que uma teve o trabalho de se preocupar com a luz, com o ângulo, o corte, a velocidade etc. e a outro simplesmente se apropria da primeira. O importante para a segunda foto é que ela se apropriou da primeira independente do significado visual presente nesta. Assim a segunda foto é vazia de significado visual. O interessante da segunda fotografia é o seu mecanismo de apropriação.
No Googorama ocorre uma perversão deste mecanismo que apresentei. As fotos que compõe o mundo do street view são fotografias cegas: não havia ninguém olhando por de trás das lentes, olhando e escolhendo o que iria ser fotografado, ou seja, são vazias de significados. E no caso da segunda fotografia, que deveria esvaziar o conteúdo visual da primeira, estamos nós [do suwud] escolhendo o melhor ângulo e o melhor assunto para ela, de certa maneira, agregando um valor visual ao que era antes vazio.
Esta atitude a princípio fria em relação ao Google Street View, não consegue esconder uma postura crítica do coletivo. Afinal, eles, após a seleção das 18 imagens captadas no site, escolhendo aquelas com o “melhor ângulo e o melhor assunto”, como que “restituíam” àquelas fotos geradas cegamente (para continuar com a metáfora do integrante do coletivo) um “valor visual” perdido pelo próprio processo de fatura do Google Street View.
O caráter crítico dessa atitude se evidencia, em primeiro lugar, quando o coletivo declara que o Googorama concorreu ao Prêmio Porto Seguro de Fotografia 2007 dentro da categoria “Pesquisas Recentes”. Enviar o Googorama para o Prêmio Porto Seguro – um evento que comumente celebra a persistência da tradição da fotografia moderna no Brasil – pode ser entendido como mais uma ação provocadora do coletivo – o “fato 2”? –, do que, de fato, o desejo de concorrer ao Prêmio. Afinal, O suwud, ao evidenciar os estilemas típicos da fotografia de rua (e, portanto, da “fotografia direta”) em fotos captadas em um site de fotos “cegas”, evidenciava, ou colocava a nu as fragilidades do discurso fotográfico de cunho moderno, pautado na retórica do “olhar do fotógrafo”, do “momento decisivo”, etc.
Não é para estranhar que o júri do Prêmio ignorou a proposta do coletivo.
A recepção negativa de Googorama junto ao Prêmio Porto Seguro de Fotografia 2007 indica a resistência de certos setores do circuito da fotografia em encarar atitudes que questionem pressupostos muito arraigados da tradição fotográfica moderna.
A recepção que Googorama encontrou em alguns sites e blogs da internet, também dedicados à fotografia ou à webart, não foi muito diferente. No entanto, o Googorama, nesses casos, não foi simplesmente ignorado. Ao contrário, em pelo menos três desses espaços – o blog http://monochrom.at/english/2007/07/googorama.htm e os sites http://www.photosig.com/go/forums/read;jsessionid=aWaqgWBxvuEbv-ht-p?id=235570 e http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00LzqU – o portfolio Googorama gerou debates e controvérsias. Os participantes desses fóruns não ficaram indiferentes, ou não ignoraram o tipo de provocação feita pelo suwud à tradição da fotografia moderna.
A leitura dos debates suscitados a partir da visualização do Googorama pelos participantes desses foruns, demonstra o quanto os vários preceitos que estruturam a retórica da fotografia moderna encontram-se ainda vivos, apesar de todas as discussões que, há décadas, vêm sendo feitos sobre a questão. Ressalte-se também a permanência, dentro desses espaços virtuais de discussão, de concepções ainda tradicionais relativas à arte, ao artista, à obra de arte, etc., demonstrando que ainda há muito o que produzir, se o objetivo for a problematização e superação desses conceitos tradicionais.
*
Creio que caberia agora inquirir sobre a própria estrutura do Googorama para tentarmos deixar claras as razões que, provavelmente levaram, tanto o Prêmio Por Seguro quanto os debatedores dos fóruns citados, a recepcionarem aquele trabalho de forma negativa.
Em um dos depoimentos citados acima, um dos membros do coletivo expõe que, ao se apropriar das fotografias do Google Street View, o coletivo confere “valor visual” às “fotos cegas” do site norte-americano. A pergunta a ser aqui proposta é: de onde é retirado o “valor visual” que é introjetado nas fotografias em questão?
O suwud, ao selecionar algumas das inúmeras fotos do site para produzir o Googorama, mostra a todos que, apesar de aparentemente cegas, aquela imagens podiam ser percebidas como “autorais”, como resultados de um olhar singular frente ao real. Afinal, nelas se percebe certas tomadas “inusitadas”, alguns “pontos de vista” originais, que denunciam um “olho” que comandaria a operação de captação.
Porém, quando evidenciado que a origem das mesmas é o Google Street View e que, portanto, elas não foram captadas por nenhum ser humano, por nenhum olhar sensível e criativo e atento ao “instante decisivo”, o coletivo evidencia que toda a retórica da streetphotography – como visto, desinência da straightphotography e, portanto de uma parte considerável da fotografia moderna – encontra-se embutida no próprio mecanismo da câmara fotográfica.
Pensar que algumas daquelas tomadas, interessantes justamente pelo enquadramento inusitado, foram captadas por uma máquina qualquer em cima de um automóvel, causa um desconforto efetivo. Frente ao que é explicitado pelo coletivo, portanto, caberiam pelo menos duas atitudes: ignorar a provocação ou renegá-la em prol de valores supostamente mais altos como o “olhar do fotógrafo”, a “criatividade humana” e outros.
Na verdade, o suwud mostra na prática, o que o filósofo Vilén Flusser já havia configurado no plano teórico: o fotógrafo fotografa o fotografável, aquilo que já está previamente programado pelo aparelho fotográfico para um vir a ser da fotografia:
“Se considerarmos o aparelho fotográfico [ ...,] constataremos que o estar programado é que o caracteriza. As superfícies simbólicas que produz estão, de alguma forma, inscritas previamente (“programadas”, “pré-escritas”) por aqueles que o produziram. As fotografias são realizações de algumas das potencialidades inscritas no aparelho. O número de potencialidades é grande, mas limitado: é a soma de todas as fotografias fotografáveis por este aparelho. A cada fotografia realizada, diminui o número de potencialidades, aumentando o número de realizações: o programa vai se esgotando e o universo fotográfico vai se realizando. O fotógrafo age em prol do esgotamento do programa e em prol da realização do universo fotográfico. Já que o programa é muito “rico”, o fotógrafo se esforça por descobrir potencialidades ignoradas. O fotógrafo manipula o aparelho, apalpa-o, olha para dentro e através dele, a fim de descobrir sempre novas potencialidades. Seu interesse está concentrado no aparelho e o mundo lá fora só interessa em função do programa. Não está empenhado em modificar o mundo, mas em obrigar o aparelho a revelar suas potencialidades. O fotógrafo não trabalha com o aparelho, mas brinca com ele. Sua atividade evoca a do enxadrista: este também procura lance “novo”, a fim de realizar uma das virtualidades ocultas no programa do jogo...”15.
Se ainda nesse texto, Flusser credita um mínimo de possibilidade de ação do fotógrafo – apesar de caracterizá-lo como uma espécie de ser subjugado à precessão do programa fotográfico do aparelho – o processo de explicitação proposto pelo suwud em Googorama deixa claro que, na atualidade, os programadores definitivamente prescindem do fotógrafo, uma vez que toda a estética da fotografia, pré-programada há mais de um século, e agora realimentada pela presença do digital, dá conta sozinha do ato de fotografar diretamente.
O que efetivamente seduz nessa ação do suwud é que seu gesto, embora guarde algum travo da herança de Andy Warhol – que também buscava “apenas” explicitar a realidade da Brillo Box, ou da foto de Liz Taylor – não tende a glamorizar ou transfigurar o objeto comum, transformando-o em “arte”. O coletivo parece satisfeito em apenas apontar o esquema que estrutura a retórica fotográfica, deixando ao receptor que processe a informação da maneira que lhe convier.
Ao tornar visível a retórica fotográfica apenas reiterando o seu existir anterior à experiência do olho humano, o suwud não estetiza sua estratégia desestruturadora dos códigos da visualidade tradicional (que, na verdade, antecedem por séculos a câmara fotográfica), não produzindo, assim, um objeto de arte passível de ser reduzido à mera condição de mercadoria. Por outro lado – e consequentemente –, satisfeito em manter sua intervenção no âmbito da pura informação desmaterializada, dificilmente o coletivo corre o risco de encontrar sua proposta na sala de algum colecionador.
*
Em um momento em que a grande maioria dos agentes do circuito da arte parece aliviada em produzir, ou então superestimar, obras que mal disfarçam o seu único desejo de ser mercadoria, um coletivo que se compromete com a estratégia de explicitar os mecanismos de poder que estruturam tanto o mundo da arte, quanto o mundo da informação desperta uma certeza: não é possível afirmar que o nosso tempo seja de pura indigência.
Notas
1 - Agradeço a Roberto Winter e a Pedro Terra a disponibilidade que tiveram para discutir comigo a produção do suwud e ao meu colega do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP, Gilbertto Prado pelas sugestões de leituras.
2 - Refiro-me aqui à incapacidade de ambos em perceberem os desenvolvimentos do conceito ocidental de arte fora dos paises europeus e dos Estados Unidos, um problema que, pertencendo exclusivamente ao tipo de tradição que ambos representam, apenas caberia, a nós latinoamericanos e demais “excluídos”, lamentar (por eles). BELTING, Hans. O fim da história da arte. São Paulo: Cosac & Naif, 2006.; DANTO, Arthur. Después del fin del arte. Barcelona: Paidós, 2002.
3 - “Por dentro e por fora das bienais”, in PEDROSA, Mário. Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Perspectiva, 1975, pág. 300..
4 - ARGAN, Giulio Carlo. L´Arte moderna. 1770/1970. Firenze: Sansoni, 1980.
5 - Interessante salientar, mesmo que de passagem que se na pop art, Arthur Danto observa a transfiguração do objeto cotidiano à condições de objeto de arte, nas proposições sobretudo de Clark, nota-se uma transfiguração ao contrário: ao transformar o objeto de arte em aparelhos que apenas provocam a relação entre sujeitos ou entre esses e o espaço/tempo, a artista simplesmente supera o conceito de “objeto de arte”. (Se, mais tarde, alguns de seus seguidores, continuarão firmes no processo de ressacralizar os objetos relacionais de Clark, produzindo “quase objetos relacionais”, isto é uma outra história).
6 - Sobre o assunto ler: BREA, Jose Luis. La era postmidia. Acción comunicativa, prácticas (post)artisticas y dispositivos neomediales. Salamanca: Editorial Centro de Arte de Salamanca, 2002.
7 - Straight photography – Uma tendência surgida no campo da fotografia norte-americana, no início do século passado que, buscando fugir dos estereótipos pictóricos acadêmicos usados à exaustão por fotógrafos que desejam conferir à fotografia o status de arte, tinha por objetivo produzir uma fotografia direta, sem artifícios estilísticos e técnicos. Para alguns autores, essa fotografia “direta” de alguma maneira apenas deslocava os padrões pictorialistas: se aquela que a antecedeu buscava na pintura acadêmica os seus parâmetros, esta tentava pautar-se em uma cartilha modernista, sempre atenta à pintura de ponta na época.
8 - Street photography – Literalmente “fotografia de rua”, levava a proposta da straight photography para fora dos estúdios, documentando de forma direta a vida nas ruas das grandes metrópoles norte-americanas. As duas tendências influenciaram a fotografia internacional agindo com força na atualidade.
9 - ARGAN, Giulio Carlo./FAGIOLO, Maurizio. Guida a la storia dell´arte. Firenze: Sansoni, 1977.
10 - Depoimento via email concedido por Pedro Terra ao autor no dia 22 de fevereiro de 2008.
11 - Neste sentido é que pode ser visto o vídeo Performance Hotel Laboratório, realizado a partir da documentação de uma das instalações da torre-escada citada acima.
12 - Depoimento via email concedido por Roberto Winter ao autor, dia 3 de fevereiro de 2008.
13 - Depoimento via email concedido por Roberto Winter ao autor, dia 4 de março de 2008.
14 - Depoimento de Pedro Terra concedido via email ao autor no dia 28 de fevereiro de 2008.
15 - FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. pág.23.
|