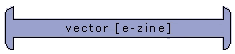x #02
JUL.05
VIDEO
|
A instalação vídeo: media e hipermedia
“Começamos a ver as formas e as sombras e a luz reflectida pelas figuras nos rostos das pessoas. É muito subtil, mas os espectadores começam a misturar-se nas projecções.”
Gary Hill
Tentemos caracterizar a natureza dos lugares que vão acolher muitas das intervenções artísticas que trabalham com a imagem, mais particularmente aquelas que através de múltiplos meios pensam não só o carácter expositivo dessas mesmas imagens, mas também a forma como estas vão ocupar o lugar de exposição. O termo instalação é já revelador de uma determinada atitude que prevê como fundamental o comportamento das obras num espaço, entrando em cruzamento com as acções de quem irá receber ou ler essas mesmas obras. Num maior ou menor grau de interactividade que se pretende ter com o espectador, estas imagens instaladas aparecem numa dependência com uma certa tecnologia que faz parte do nosso quotidiano: desde os telecomandos à distância, aos vídeos-porteiros, às videoconferências, aos outdoors publicitários, aos sistemas sofisticados de vigilância, aos sensores que nos abrem as portas nos centros comerciais, aos sistema de controlo dos aeroportos, aos micro-ondas programáveis, aos processos de uma medicina feita à distância, aos múltiplos automatismos que nos substituem, enfim, a toda uma imensidão de artifícios que permitem ou tentam promover uma nossa maior e mais eficaz ligação ao mundo e às coisas. Da ontologia da técnica não estaremos livres, já que somos parte dela. Assim, quando se pensa em imagem e em veicular imagem, seremos intensamente sugados por todo um contexto ao qual não estamos alheios. As preocupações de quem pensa e produz imagens passam por todo um universo que é vivido por um número alargado de utilizadores (ou espectadores) que se habituou a ter tudo à mão, de um modo que classificarei como passividade activa. Diz-nos Walter Benjamim, a propósito do cinema, que a desvalorização aurática do objecto artístico permitiu que o espectador (o público) fizesse uma entrada na obra de um modo descomprometido, já que esta pertence ao domínio do social (e pertence também a esse público). Acrescenta ainda como determinante o facto do olhar do público ser um olhar distraído: “O cinema rejeita o valor de culto, não só devido ao facto de provocar no público uma atitude crítica, mas também pelo facto de tal atitude crítica não englobar, no cinema, a atenção. O público é um examinador, mas distraído”. (Benjamin, 1992/1955 p. 110). Ou seja, numa perspectiva de obra total, esta despoleta no espectador uma série de impressões — uma actividade múltipla (num mesmo lugar podemos aceder a outros lugares). Não é pois de admirar que todo o século XX tenha já convocado para o universo da arte uma multiplicidade de meios que ao tentarem acompanhar ou antecipar as revoluções tecnológicas que se foram operando, pudessem assim estar intimamente ligados aos tempos que lhe eram próprios.
Mas, voltando um pouco atrás e focando em particular o contexto que rodeou o aparecimento do vídeo e das instalações vídeo, interessa perguntar o que é que fez do vídeo um meio potenciador de transgressão, já que nunca se bastou a si mesmo. Estou portanto a dispensar desta análise todo um outro vídeo, que se comporta bem em salas negras e fechadas e que será para consumir como objecto independente (mais próximo da visão do que é o cinema). O que interessa antes é, então, um vídeo que vem da tradição das artes plásticas, que se relaciona com a ideia de uma obra para instalar, para posicionar num lugar. Mas que introduz um dado completamente novo: a instabilidade do tempo (da efemeridade dos acontecimentos à variabilidade dos tempos de leitura da obra). Enquanto que o cinema pede que o nosso olhar foque um grande espaço centrado numa sala, durante um tempo pré-conhecido, o vídeo, ao entrar pelos televisores, ao ficar (ao perder-se) nos circuitos dos cabos que ligam câmaras a monitores em tempo real, está desde logo a desdramatizar a visibilidade das obras e a potenciar que outros meios, outras interferências no processo sejam possíveis. Além disso, ao possibilitar uma manipulação caseira que não necessita de grandes meios, nem implica um tempo de montagem muito longo porque vive da não sofisticação, reforça este vídeo e estas instalações como exemplos envoltos por um intenso carácter experimental. Inclusivamente, a implicação do corpo nestas obras é outra. Por razões desta ordem, será possível falar de meios, de múltiplos meios e de uma interactividade com o espectador.
“A instalação vídeo como hipermedia” (Bonet, 1994) é a realização de um processo que por si só potencia a acessibilidade a um todo a partir de múltiplos acessos (texto, imagem, som, etc.). Aqui faz-se uma analogia com o hipertexto que da mesma forma, permite “aceder a diversas informações” (idem, p. 24). Então, esta ideia de instalação joga na múltipla diversidade de meios, como uma possibilidade de chegar a uma maior concepção do todo (fractal) incluindo para isso a participação do espectador como intensificador da obra. O vídeo estará lá como parte de uma totalidade. Nesta ordem de ideias será um trabalho como o de Bruce Nauman esclarecedor quanto à convocação de múltiplos meios para a construção da experiência. Entre o desenho e o vídeo, objectos, fotografias, luzes fluorescentes, néons, manipulação do espaço, poderíamos inscrever os seus projectos como manifestações de uma fuga à coerência criativa. Sem dúvida que a desmultiplicação de interesses com um carácter experimental leva-nos a ligações várias — temos aqui o hipermedia em acção. As instalações de Bruce Nauman são um misto de encenação e presença real (através dos objectos manipulados). Em Corridor Installation (1970) haverá mesmo uma implicação do espectador para lá da relação distanciada que um vídeo-monitor realiza normalmente. Aqui, quando entramos na obra–corredor, estamos imediatamente a percorrer um espaço que é já a obra: inesperadamente, é como se estivéssemos dentro dela. Reforçando ainda esta perspectiva de ao estarmos dentro da obra–corredor sermos obra, passamos também a ser alvo do olhar de câmaras de vídeo que nos observam silenciosamente. A nossa imagem vai-nos sendo devolvida por monitores vídeo colocados no corredor. Aquilo que encontramos é o nosso próprio deslocamento dentro daquele espaço onde entramos e que nos absorve tal qual os espelhos o fazem. Os encontros que se processam no corredor com os monitores vídeo ligados às câmaras em circuito fechado, funcionam simultaneamente como espelhos e como reveladores da nossa presença performativa no espaço. Somos uma ficção e somos corpos reais — Bruce Nauman manipula todo este contexto deixando-nos numa posição de constrangimento, já que dela não podemos escapar (até porque os corredores que percorremos são apertados, quase claustrofóbicos). Perante estas possibilidades, dentro de uma manipulação posta a claro pelo próprio artista, somos levados enquanto espectadores a tornarmo-nos participantes activos no processo criativo, o que só terá sido possível porque nos foi permitido aceder através de múltiplas entradas (a entrada do corredor, as entradas das câmaras vídeo) e através de variados meios instalados de uma determinada forma (a instalação hipermedia também em evidência) a um reconhecimento múltiplo da nossa própria representação, espelhada aqui através dos vídeo-monitores.

Gary Hill, Tall Ships, 1972.
|
Numa intensa fusão entre espectador e imagem (ou obra) está o trabalho de Gary Hill. Em Tall Ships (1992), procurando-se uma experiência absolutamente compartilhada pela acção do espectador, abrem-se as fronteiras do próprio espaço que acolhe a instalação. Num lugar escuro e silencioso, onde entramos, vamos encontrar uma sensação de estranheza. Não vemos nada, não sentimos nada. No entanto, numa vontade exploratória, continuamos o nosso percurso hesitante. Inesperadamente, vemos surgir, à nossa frente, figuras, umas a seguir às outras, as quais direccionam a sua atenção sobre o nosso próprio corpo. Ou antes, estas imagens-vídeo dirigem o seu olhar sobre nós. Ao todo, 16 imagens (que correspondem a 16 participantes) podem vir ao nosso encontro, acrescentando-se assim àqueles que estão já no lugar. Entre as imagens e os espectadores a distância anula-se, como se as figuras fantasmáticas fôssemos nós. A nossa deslocação acciona os sensores electrónicos que, por sua vez, activam o aparecimento das imagens-projecções, como se se tratasse de uma perda da corporalidade. Além disso, Gary Hill, terá procurado “que a interactividade fosse virtualmente transparente até imperceptível” (idem, p.87). Sendo este um trabalho que pede uma interacção por parte do espectador, numa espécie de mergulho na obra, convoca para a sua concretização a imaterialidade do próprio espectador, num processo eminentemente virtual.
Será altura de referir uma obra de Bill Viola — Slowly Turning Narrative, 1992 — paradigmática desta ideia de simultaneidade de imagens num espaço que vai sendo definido à medida que o tempo da obra vai decorrendo (acontecendo). O espectador é também absorvido por ela, criando mais um nível de relacionamento. Vejamos a descrição da instalação-vídeo como nos é revelada no catálogo de Bill Viola, “Más allá de la Mirada (imágenes no vistas)”, de 1993: “No centro de uma sala escura gira lentamente sobre o seu eixo um grande ecrã (275x360cm ). Em frente, situados em lados opostos, há dois vídeo-projectores. Um dos lados do ecrã é um espelho, o outro é uma superfície de projecção normal. Um projector mostra constantemente uma imagem a preto e branco do rosto de um homem em primeiro plano, com uma iluminação dura. O homem às vezes parece distraído, outras vezes tenso. O outro projector mostra uma série de imagens que vão mudando (crianças num carrocel, uma casa a arder, gente num carnaval durante a noite, crianças brincando com jogos artificiais, etc.), que se caracterizam por ter um movimento contínuo, uma luz e umas cores muito fortes. No lado da projecção a branco e preto, ouve-se uma voz que recita, como se fosse uma ladainha, uma longa lista de frases que descrevem estados existenciais e acções individuais. No lado da projecção a cores, ouve-se o som ambiente de cada imagem. Os feixes luminosos dos dois projectores formam imagens distorcidas sobre a superfície em mudança do ecrã e sobre as paredes da galeria à medida que o ângulo do ecrã se alarga ou estreita no decurso da sua rotação. O lado que é um espelho envia sobre as paredes uma cascata de imagens distorcidas, formas indeterminadas e fantasmagóricas. Além disso, o espectador vê, no espelho que passa lentamente diante dele, a sua própria imagem e o que a rodeia.” O que esta obra propõe é um desdobramento, como se estivesse em decomposição. Ou, a haver unidade, nunca estará em causa uma linearidade narrativa. Antes pelo contrário, teremos um campo aberto de possibilidades: o ecrã em movimento, com as imagens também em movimento, a projectarem-se para lá da própria superfície; o ecrã-espelho a absorver as imagens e reenviá-las para o espaço da sala onde se coloca o espectador; o espectador a mergulhar nas imagens e as imagens a irem ter com ele; os sons com diferentes origens, apesar de um mais predominante. Estamos perante a não fixidez como estrutura e a imagem como espelho de si mesma.
Vídeo-narcisismo
“O monitor é um espelho contínuo.”
Joan Jonas
O vídeo, segundo Rosalind Krauss (1976), e a forma como foi utilizado pelos artistas na década de 60 e no início da década de 70, coloca a questão de saber se será esse um meio que assume um olhar narcisista, sendo verdade que nos surge tão próximo da ideia de espelho. Ora, nesse lançar insistente de um olhar sobre si próprio, poderá colocar-se a questão de o seu manipulador estar prisioneiro de uma imagem narcísica. A verdade é que haverá na constituição da natureza deste meio tecnológico um paralelismo relativamente aos processos de visibilidade que o espelho nos dá. O facto do vídeo funcionar num circuito fechado entre câmara e monitor vídeo, permitindo uma instantaneidade da imagem, está desde logo a colocar questões semelhantes às que o espelho coloca. Se frente ao espelho se processam mecanismos de confronto do Eu (Lacan, 1999/1966), teremos em aberto essa possibilidade com o vídeo. Esta questão coloca-se em relação ao vídeo não só por trazer a possibilidade de se proceder à gravação e transmissão das imagens no mesmo instante, mas também porque a história do vídeo é também uma história do corpo: muitas das obras dos artistas produzidas nesta altura usam o próprio corpo como instrumento de trabalho, colocando mais uma vez a natureza do vídeo muito próxima da natureza do espelho. Ambos gerem a problemática da imagem do corpo: da sua captura à sua evidência. A questão colocada por Krauss no seu texto “Video: The Asthetics of Narcisism”(1976) é a de saber se essa natureza do vídeo está ou não intimamente ligada à de Narciso quando este reconhece a sua imagem reflectida na superfície da água, que imediatamente o seduz e encanta. De facto, Narciso não quererá desviar mais o olhar da sua própria imagem reflectida, morrendo ao debruçar-se nas águas do lago. Ao esvaziar-se de si mesmo e ao concentrar a sua atenção numa imagem distante, Narciso revela que não reconhece a ligação entre as duas, ou seja, recusa a sua própria identidade, esgotando-se na imagem. O conceito de narcisismo que estará aqui contido será a de “uma total negação da própria identidade sentimental” (Perniola, 1994/1990, p. 49). Realmente, aquilo que aconteceu ao vídeo nos anos 60 teve a ver com a consciência de que se tratava de um meio completamente novo, trazendo inclusivamente a ideia de que por si só podia funcionar também como um meio reivindicativo ou crítico face a toda uma sociedade. Por um lado, o facto de o vídeo também ser televisão, trazia-lhe potencialidades de análise de todo um contexto que se tornava cada vez mais iludido pela espectacularidade da imagem. Por outro lado, quando os artistas perceberam que ao pegar na câmara vídeo podiam ver-se dentro do próprio circuito electrónico como instrumentos passíveis de manipulação, entenderam que este suporte indiciava um afastamento ou uma fractura em relação ao que tinha sido o discurso artístico até então. O que parecia que se estava a operar aqui tinha a ver com a construção de um discurso que estaria a desenhar-se nos próprios meandros do meio, isto é, não encontrando outras preocupações fora dele. Além disso, o vídeo não era uma tecnologia que falasse por si só. O corpo do artista, ao entrar pelas câmaras e ao revelar-se nos monitores, estava a centrar esse discurso sobre si mesmo e a sua própria imagem, com uma intensidade para a qual não encontramos antecedentes. Esse circunscrever da acção dentro dos mecanismos que o meio permitia, leva-nos com certeza à ideia de espelho. Rosalind Krauss fala-nos numa self-encapsulation como se o vídeo trouxesse ao artista um jogo que se faria entre o seu corpo e a mente. Parece que o que é apontado nesta possibilidade do corpo entrar pelos artifícios tecnológicos do meio, é que se estaria a funcionar num território assumidamente circunscrito: o corpo, os seus reflexos, a sua identidade, a especularidade da imagem. Estamos pois perante uma arte auto-reflexiva, auto-encapsulada, como se estivesse envolta por dois parênteses (Krauss, 1976), numa exclusão perante um sistema mais vasto. O corpo, esse, está ao espelho, na dúvida permanente (ou numa ilusão identitária). Convocando duas obras de Dan Graham, será interessante entender quais foram as estratégias utilizadas que colocaram precisamente o artista, e também o próprio espectador, dentro deste efeito-espelho, numa espécie de armadilha narcísica.

Dan Graham, Body Press, 1970-72.
|
Pensemos em Body Press (1970-1972), apesar de se tratar uma peça filmada em película. Aqui, dois corpos (o de um homem e o de uma mulher) encontram-se imóveis no interior de um espaço circular e fechado (um cilindro) forrado por um espelho. Cada um deles manipula uma câmara de vídeo. Essas câmaras, ao serem conscientemente agarradas pelos dois, têm ainda a particularidade de descreverem um percurso que envolve os dois corpos. As câmaras têm o ponto de vista da pele dos corpos, já que filmam as reflexões que se produzem no espelho. Há um momento em que trocam de câmaras, no preciso instante em que a rotação se faz na parte de trás dos corpos. Aqui cada uma das câmaras troca de perspectiva. O que acontece é que estes dois objectos funcionam como se fossem também parte dos corpos dos performers como uma extensão, uma prótese. Os olhares das câmaras tornam-se mais reais do que os próprios olhares das duas pessoas que acabam por se anular neste processo. O olhar do espelho também é forte, já que é através dele que nos são revelados os corpos (deformados) a entrar pelas câmaras dentro. O fechamento da obra é assinalável. Mais tarde iremos ver as imagens que cada câmara captou, quando as imagens são projectadas frente a frente numa sala. O esquema absolutamente circular deste trabalho é ainda reforçado pela encenação fechada em si própria. Haverá que referir que a experiência dos dois performers é a experiência deles, como se de um auto-conhecimento se tratasse, num espaço de intimidade e ao mesmo tempo de distância. Os dois não se olham frente a frente: estão virados de costas. O contacto far-se–á através da mediação do espelho e no momento da troca das câmaras, tendo em conta que esse momento é centrado nas máquinas-câmaras. A ampliação que Dan Graham faz do mecanismo auto-referencial, em circuito fechado, vem reforçar uma vontade de fazer falar a tecnologia tão alto como falam os corpos que se vêem através dela. As implicações ou os envolvimentos são sentidos pela pele dos intervenientes. A sua participação é efectiva, apesar de manipulada e mutilada (as movimentações não são livres, seguem um rigoroso sentido). Chegamos mesmo a sentir que a ligação se processa mais com as câmaras do que com os dois corpos, já que estes comunicam de modo distanciado. As câmaras, sim, são bem agarradas, a atenção é-lhes oferecida integralmente. E ainda, o facto de toda a história do trabalho acontecer no preciso momento em que se realiza (não há propriamente uma história), traz-nos mais uma vez a evidência de um tempo real, em que todas as coisas acontecem. As imagens que nós, espectadores, veremos depois, ao serem passadas sem cortes, ou seja com um plano único, estão igualmente a falar desse momento presente (real) que aconteceu naquele espaço em concreto.

Dan Graham, TV Camera/Monitor Performance, 1970.
|
Uma outra obra de Dan graham, TV Camera/Monitor Performance (1970) é reveladora destas experiências em torno do meio, numa focagem quase obsessiva. Numa sala, encontra-se um estrado e um monitor vídeo. No meio entre estes dois objectos, uma assembleia expectante sentada em cadeiras, observa o artista que se movimenta no estrado (palco) filmando o próprio público. Cedo se percebe que as imagens do público estão a aparecer em simultâneo no monitor vídeo. A câmara e o monitor vídeo estão em circuito fechado. A imagem é revelada em tempo real. O público que inicialmente focava o performer, vai alternar agora a sua atenção entre o palco e o monitor, num movimento entre os dois focos de interesse, pois a sua própria imagem (a do público) está lá onde o monitor se encontra. Mais uma vez, um pingue-pongue, que enceta também uma clausura. O olhar do público está entre os dois, está no meio do processo. O vídeo funciona uma vez mais como um espelho, dando espessura ao acto de mediação. Mesmo que os olhares dos espectadores/actores (porque entram na obra, são as personagens dela) se percam entre o percurso câmara-monitor, estarão logo a seguir lá. Não há saída possível. Ainda mais, a câmara que o manipulador tem nas mãos, não se vira somente para o público, mas também para o próprio monitor, resultando daí um efeito de feedback entre as duas máquinas: o resultado é que teremos uma imagem dentro de outra imagem. O facto de este trabalho se construir na instantaneidade da imagem, provoca uma ilusão própria do artifício-espelho — não sentimos que elas estejam a mediar o quer que seja, antes sim a veicular a própria realidade (como um espelho faz). Todos estes processos mais ou menos envoltos por um confronto entre corpo e imagem do corpo, fazem-me pensar num texto de Oliver Sacks (“Aprumo”,1985) que relata os contornos de uma patologia detectada num homem que não tinha consciência que o seu próprio corpo se deslocava inclinado. Conta Sacks:
“Faz agora nove anos que conheci o sr. MacGregor na clínica neurológica de St. Dunstan (um lar para a terceira idade onde trabalhei), mas lembro-me dele — parece que o estou a ver — como se tivesse sido hoje. “Qual é o seu problema?”, perguntei quando o fui observar. “Problema? Nenhum — pelo menos que eu saiba… mas toda a gente diz que me inclino para um lado, dizem que pareço a Torre de Pisa, que estou quase a cair para um lado.”
“Mas o senhor não se sente inclinado?”
“Eu sinto-me bem. Não percebo do que é que estão a falar. Como é que posso andar inclinado sem perceber?”
“Realmente é estranho”, concordei. “Vamos ver isso. Gostava de o ver aqui em pé e a andar um pouco — só daqui até à parede e para aqui outra vez. Quero ser eu a ver e quero que o senhor veja também. Vamos filmá-lo e depois vemos o vídeo.” (…)
“Está a ver?”, perguntou a sorrir. “Não tenho problema algum. Ando direito como uma tábua.”
“Tem a certeza? Veja.”
Rebobinei a cassete e passei o filme. Ele ficou profundamente chocado com o que viu. Ficou de olhos abertos e queixo caído.” (Oliver Sacks, 1985, pp.95- 96)
Oliver Sacks explica-nos depois que se tratará neste caso de uma lesão cerebral que se revelaria problemática ao nível dos “órgãos de equilíbrio em conjunto com a noção que o corpo tem de si próprio e com a sua imagem visual do mundo”. (idem, p. 97). Ou seja, parece que haveria um desacerto entre a imagem que a pessoa teria de si — descontrolada por questões que ultrapassavam a consciência do paciente — e a que realmente tinha. “Então esse é o meu problema, não é?”, perguntou ele. “Não consigo utilizar o prumo que tenho na cabeça. Não posso usar os meus ouvidos internos mas posso usar os meus olhos.” Intrigado, inclinou a cabeça para um lado. “Tudo parece estar na mesma — o mundo não se inclina.” Depois pediu-me um espelho e mandei vir um bastante grande. “Agora vejo-me inclinado, agora posso-me endireitar, talvez até consiga ficar direito… mas não posso viver rodeado de espelhos, nem andar sempre com um às costas.” (idem, p. 99-100) Esta pequena história serve-nos aqui para ajudar a perceber melhor o contexto que envolveria todo um universo experimental da utilização do vídeo. Retomando o que se tinha apontado para as obras de Dan Graham, este seria um processo de reconstrução da própria identidade através de uma imagem exterior a funcionar como confronto especular. As imagens do vídeo e depois o próprio espelho teriam ajudado o paciente de Oliver Sacks a retomar a sua ligação ao mundo e à imagem que tinha de si mesmo. Não estarão aqui algumas das questões que aparecem visíveis nos trabalhos dos artistas destes anos 60 e 70?
O encerramento dentro do próprio meio tecnológico num efectivo circuito fechado implicaria um olhar a esgotar-se nesse processo. Por isso este vídeo-narcisismo que implica uma auto referencialidade como forma de ligação ao mundo, dele também estando desligado, como nos diz Rosalind Krauss utilizando para isso a metáfora do parênteses. Ao reforçar a atenção nos mecanismos implícitos ao meio, iremos por um lado encontrar um excesso de atenção em relação ao que está presente num momento real, e por outro, encontrar também uma transparência quase fantasmagórica desse mesmo meio. Serão estas algumas das implicações que encontro quando a imagem do corpo se confunde com o reflexo especular visível nos monitores vídeo ligados às câmaras em tempo real.
Vídeo e feminismo
“O objectivo principal da maioria dos meios de comunicação de massas é fazer-nos sucumbir à sua magia e perder a nossa capacidade crítica. Visto eu pretender acima de tudo pôr as pessoas a reagir e a pensar criticamente, preciso que elas se apercebam que não estou a oferecer-lhes entretenimento. Quero, antes, que o meu trabalho as irrite.”
Martha Rosler

Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen , 1975.
|
Semiotics of the kitchen (1975) é um vídeo de Martha Rosler. Numa cozinha, a artista vai, segundo uma ordem alfabética (com um garfo e uma faca nas mãos desenha as letras no ar), descrever e mostrar os vários utensílios de cozinha e as suas funcionalidades. Ao aparecer naquele lugar leva-nos para um contexto preciso, de onde surge uma espécie de rebelião interior, pretendendo dessa forma assumir uma acção crítica sobre os meios de difusão de informação. Ou seja, assumidamente é seu objectivo agir sobre os mecanismos massificados de elaboração de sentidos, que nos colocam sob um encantamento, ao qual, segundo Rosler, temos de reagir. Traz também aqui um universo de actuação que estará circunscrito ao domínio do feminino e no qual haverá um “sistema de exploração da subjectividade” (Martha Rosler in catálogo Circa, p. 625).
Duet (1972) de Joan Jonas é um diálogo consigo mesma, colocando-se frente a um monitor vídeo onde está também a sua imagem. Aqui temos o vídeo sob a condição de espelho. Por sua vez, Vertical Roll (1972) [ver http://www.virose.pt/vector/x_02/videos.html] de Jonas, funciona numa forte ligação a uma ideia de identidade feminina. Ao explorar a fragmentação da imagem vídeo que se revela sob um artifício tecnológico baseado na incompleta sintonização (a instabilidade do sinal vídeo vai provocar um rolamento vertical da imagem), produz uma anulação de uma leitura com um sentido linear, em favor de uma descontinuidade narrativa. A movimentação que se cria torna-se mesmo incomodativa, pondo em evidência a condição tecnológica do meio: o vídeo na sua condição material como potenciador de uma transgressão da própria imagem. Aquilo que resta dessa fragmentação é um corpo também ele disfuncional — Jonas ao usar o seu próprio corpo como elemento de múltiplas representações/encenações está a veicular uma visão fragmentada (à qual se junta o barramento da imagem). O permanente movimento da imagem, a permanente instabilidade e a condição de desaparecimento que ela potencia, traz-nos para um contexto muito particular que tem envolvido muitos trabalhos em vídeo, e que nos leva a pensar numa espécie de espelho partido, já que se tratará aqui de um auto-retrato quebrado na sua unidade (fragmentado). Ainda de Joan Jonas, importará referir Organic Honey’s Visual Telepathy (1972), onde Jonas enceta um jogo ritualizante com ela própria e um seu duplo (Organic Honey) numa diversidade de identidades. Será através de múltiplas representações encenadas, através de máscaras e artifícios vários, que se elaborará uma narrativa também ela fragmentada, onde uma identidade feminina é posta em causa. Aqui, Joan Jonas ao utilizar espelhos e imagens em espelho, num processo de manipulação óbvio, está por um lado a tornar consciente a condição de simulacro a que a massificação da imagem nos levou, assim como a tornar evidente a assumpção da imagem da mulher como um objecto de consumo como outro qualquer.

Marina Abramovic, Rithm 4 , 1974.
|
Rithm 4 (1974) de Marina Abramovic é uma performance que se divide em dois momentos distintos. Um primeiro em que a artista enceta uma performance numa sala, onde um ventilador dirigido ao seu corpo nu provoca uma agitação do ar que é sentida pelo corpo. O que acontece a Abramovic nesta performance é que acaba por perder os sentidos ao fim de algum tempo devido à pressão do ar e da própria tensão do momento. Durante estes instantes, o ventilador continua a modificar e a movimentar o seu rosto. Haverá neste espaço uma câmara de vídeo que filma a performance. Noutra sala, teremos o segundo momento de concretização do trabalho. O público, através de um monitor vídeo vai aceder à performance, apesar da sua visibilidade ser parcial (mediada): a câmara de vídeo só foca o corpo de Abramovic, não captando o ventilador. O resultado desta focagem faz com que pareça, a quem olha o monitor, que o corpo da artista está isolado. O público durante os momentos em que Abramovic perde os sentidos não tem acesso ao porquê da sua ausência no monitor vídeo. Marina Abramovic refere a este propósito: “na performance consegui usar o meu corpo dentro e fora de consciência sem qualquer interrupção” (1998). Esta vídeo-performance contém em si uma duplicidade a vários níveis. O facto de se realizar em dois espaços distintos, de algum modo mutuamente espelhados e caracterizados por uma dependência indiscutível de um em relação ao outro — o que acontece num tem repercursões imediatas no outro —, leva-nos a colocar questões que se prendem com a manipulação da imagem e sua disseminação. Assim, o público terá acesso só à imagem que se torna visível no televisor. A mediatização no sentido que altera as condições iniciais, não é completamente sentida pelos consumidores da imagem de Abramovic. Aliás, sabendo que estão a ver aquilo que acontece numa sala ao lado, acreditarão que aquilo que estará no ecrã será a verdade. E afinal, a sua situação é bem mais distante do que parece à primeira vista. E a vivida por Abramovic, essa sim, bem mais real. E voltamos àquilo que Martha Rosler referia como um dos pressupostos do seu trabalho e que passaria por fazer activar, através dos mesmos meios que provocam desactivação, uma consciência crítica no espectador face aos mecanismos de massificação que os processos de comunicação provocariam nas massas.
O que está em causa nestes vídeos anda certamente em torno das questões de identidade do género e do ser-se corpo. A evidência de uma diferença sexual como discurso que permite a colocação de questões leva a uma abertura do campo de análise (do próprio campo da arte). Haverá aqui uma introdução de problemas sociais e políticos sem antecedentes na história da arte. Aliás, o que muitas artistas intuíram nas possibilidades deste novo meio é que este não transportava consigo o peso de uma história da arte essencialmente masculina. Propondo o corpo feminino como uma campo de batalha (Barbara Kruger), o corpo da mulher passou a ser alvo de uma atenção sem precedentes. O recentrar de todo um contexto, que até aqui era de evitar (até de subtrair de um outro mais alargado) trouxe algo inteiramente novo. A intimidade é eleita como assunto do domínio do político por excelência. A intervenção é escolhida como forma de actuação. Não será de estranhar que muitos dos vídeos tenham utilizado formas de funcionamento da performance, numa transcendência do tempo real, ou a não-narratividade como ordenadora da construção das sequências-vídeo. No fundo, este novo utensílio (para um paralelismo com os utensílios domésticos) traz implicações que não estavam pré-definidas e que foram muito intensamente sentidos por alguns artistas, facto que para mim se reveste de um interesse particular. Para lá deste aspecto mais activista da intimidade do artista — o tal espelhamento electrónico de que falávamos atrás —, o corpo surge agora como texto e como contentor dos pressupostos de toda uma actividade em exposição. Como se estivéssemos a escrever no corpo, sentindo a pressão do lápis. O corpo para ser pensado é aquele que nos é proposto nos vídeos e nas instalações-vídeo dessa época. Parece-me que falar de uma certa agressividade nos modos de actuação dos artistas que manipularam, entre outros meios, o vídeo, é também algo absolutamente indispensável: vamos assistir a toda uma narrativa da desconstrução corporal através das deformações do próprio corpo, de um modo tal, que as imagens vídeo parecem gerir uma visibilidade nova de um corpo também novo.
O uso que os artistas fizeram deste meio, centrando o seu discurso nele mesmo e deixando-o simultaneamente permeável a todo um conjunto de acontecimentos do instante e do tempo real, transformou estes anos iniciais da video-arte num momento de uma particular utopia. Parece que o facto de o vídeo desta época se caracterizar por uma série delimitações tecnológicas lhe impôs uma rudeza (crueza) de expressão — que não foi propriamente uma opção — tornando-o numa forma eficaz de veicular questões e imagens do mundo, enfim, de ser espelho. Vejo então estes vídeos e instalações-vídeo como um meio que, ao afirmar-se como tecnologia (coisa), é também sujeito (ser). Da imposição tecnológica nascerá uma forma indiscutivelmente viva de relacionamento — aqui a tecnologia é o motor, num processo especular de relação com a realidade.
Bibliografia:
AAVV (1997), La Vidéo, entre art et communication, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris.
BAUDRILLARD, Jean (1991/1981), Simulacros e Simulação, Relógio D’Água Editores, Lisboa.
BAUDRILLARD, Jean (1995), A Sociedade de Consumo, Edições 70, Lisboa.
BENJAMIN, Walter (1992), Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Relógio d’Água, Lisboa.
BONET, Eugeni (1994), “A instalação como hipermédia” in cat. Múltiplas Dimensões , Centro Cultural de Belém, Lisboa, pp. 17-41.
CARROLL, Lewis (1988/1871), Alice do outro lado do espelho, Publicações Dom Quixote, Lisboa.
CARSON , Fiona e PAJACZKOWSKA, Claire (2000), Feminist Visual Culture, Edinburgh University Press, Edinburgh.
CHADWICK (ed.), Whitney (1998), Mirror Images. Women, Surrealism, and Images Self-Representation, The MIT Press, Cambridge (Mass.) and London.
CORNWELL, Regina (1994), “Gary Hill” in cat. Múltiplas Dimensões , Centro Cultural de Belém, Lisboa, pp. 86-87.
ECO, Umberto (1985), Sobre os Espelhos e outros ensaios, DIFEL, Lisboa.
EVANS, Dylan (1997/1996), Diccionario Introductorio de Psicanálisis Lacaniano, Editorial Paidós, Buenos Aires.
FOUCAULT, Michel (2000/1984), De outros espaços, e-zine VECTOR, http://www.virose.pt/vector/periferia/foucault_pt.html
HALL, Doug e FIFER, Sally Jo (eds.) (1990), Iluminating Video — An Essential Guide to Video Art, Aperture Foundation, New York.
HANHARDT, John (1986), Video Culture — A Critical Investigation, Visual Studies Workshop Press, New York
HUBER, Hans Dieter (1997), Dan Graham Interviews, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit.
ILES, Chrissie (2001), Into the Light — The Projected Image in American Art 1967-1977, Whitney Museum of American Art, New York.
KRAUSS, Rosalind (1976), “Video: The Aesthetics of narcisism”, October nº1, The MIT Press, Cambridge (Mass.), p. 51-63.
KRAUSS, Rosalind (1999), “A voyage on the north sea”: Art in the Age of the Post-Medium Condition, Thames & Hudson, London. 206
KRAUSS, Rosalind (1996/1985), The originality of the Avant-Garde and Other Modernist
Myths, The MIT Press, Cambridge (Mass.) and London.
LACAN, Jacques (1999/1966), “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je” in Écrits I, Éditions du Seuil, Paris, pp. 92-99.
LACAN, Jacques (1999/1966), “Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956” in Écrits I, Éditions du Seuil, Paris, pp. 457-489.
PERNIOLA, Mario (1994/1990), Enigmas, O Momento Egípcio na Sociedade e na Arte, Bertrand Editora, Venda Nova.
RAMIREZ, Juan Antonio (2000), “Reflexos y reflexiones del medio especular” in Exit, número 0, Olivares & asociados, S.L., Madrid, pp. 16-27.
REES , A. L . (1999), A History of Experimental Film and Video, British Film Institute, London.
SACKS, Oliver (1985), O Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu, Relógio D’Água Editores, Lisboa.
SCHIMMEL, Paul (1994), “Pay attention” in cat. Bruce Nauman , Walker Art Center, Minneapolis, pp. 67-82.
SILVA, Paulo Cunha e (1996), “A dupla visibilidade do olhar” in cat. phase 3 eye can see, Galeria Canvas & Companhia, Porto.
STURKEN, Marita (1999), “Olhando para trás. Arte do vídeo nos anos sessenta e setenta” in cat. Circa 1968, Fundação de Serralves, Porto, pp. 544-561.
VERGINE, Lea (2000/1974), Body Art and Performance. The body as Language, Skira Editore, Milan.
VIOLA, Bill (1995), Reasons for Knocking at an Empty House — Writings 1973-1994,Thames and Hudson, London.
VIRILIO, Paul (2000/1995), A Velocidade de Libertação, Relógio D’Agua Editores, Lisboa.
VIRILIO, Paul (1993/1990), A Inércia Polar, Publicações Dom Quixote, Lisboa.
Catálogos
Barbara Kruger, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2000.
Bill Viola — Más allá de la mirada (imágenes no vistas), Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1993.
Bruce Nauman, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1993.
Bruce Nauman, Walker Art Center, Minneapolis, 1994.
Circa 1968, Fundação de Serralves, Porto, 1999
Dan Graham, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, 1997.
Hers — Video as a Female Terrain, Springer-Verlag, Viena, 2000.
Marina Abramovic, Artist Body, Edizioni Charta, Milano, 1998.Martha Rosler: posiciones en el mundo real, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, 2000.
Múltiplas Dimensões, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 1994.
Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979, Thames and Hudson, London, 1998.
Cristina Mateus
Cristina Mateus nasceu no Porto em 1968.
Estudou Artes Plásticas - Pintura na ESBAP entre 1986 e 1991.
Desenvolve, desde 1986, uma intensa e regular actividade artística, quer individualmente como em colaboração com outros autores, em áreas tão diversas como a pintura, a escultura, a fotografia, o vídeo, o multimédia e outras.
Defendeu em Junho de 2003 a sua tese de Mestrado em Arte Multimédia, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, na qual exerce actividade docente.
É co-fundadora da Organização Virose.
e-mail: cm at virose.pt
|