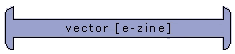x #02
JUL.05
VIDEO
|
Esta entrevista foi realizada durante os preparativos da exposição Circa 68, que marcou a abertura do Museu de Arte Contemporânea de Serralves no Porto, em 1999. É aqui publicada pela primeira vez.
Joan Jonas é uma pioneira da video-arte e da performance. As suas experiências no final dos anos 60 e no início dos anos 70 foram essenciais para o desenvolvimento da arte contemporânea em vários géneros — da performance e do video à arte conceptual e ao teatro.
Joan Jonas nasceu em New York em 1936, cidade onde vive e trabalha actualmente. Estudou História de Arte no Mount Holyoke College, Mount Holyoke, MA (B.A.,1958) e Escultura no Boston Museum of Fine Arts de 1958 a 1961. Em 1965, completou um MFA em Escultura pela Columbia University, de New York. Tem ensinado no Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, desde 2000.
(Serralves, Porto, Portugal - 21/05/99)
Óscar Faria: Em primeiro lugar, gostaria de saber as circunstâncias em que o seu trabalho apareceu nos anos 60.
Joan Jonas: Quando comecei a trabalhar em performance, em 1968, havia um interesse generalizado no trabalho em espaços que não fossem institucionais. A minha primeira performance foi apresentada, por exemplo, numa igreja, num ginásio, também em galerias, em espaços exteriores… Estava interessada em usar os espaços pelas suas propriedades particulares; noutras palavras, não o teatro, qualquer coisa que não o teatro. Havia um espaço tradicional que me interessava, não os espaços tradicionais.
OF - E porque escolheu “sair do teatro”? Porquê esse interesse em ir para outro lado?
JJ - De forma a explorar novos modos de relação com o espaço e com o contexto, o meu trabalho era muito baseado em peças de exterior. Fiz uma peça no areal de uma grande praia, chamada Jonas Beach, — “Jonas Beach Piece” — e que era baseada na ideia de distância e de como a distância afecta a imagem e o som. O público estava distanciado da performance um quarto de milha e eu trabalhei através da ideia do atraso do som ao propagar-se no espaço e das diferentes configurações das figuras nesse espaço. Não o poderia ter feito noutro lugar qualquer. Estava interessada na forma como o espaço iria alterar a minha forma de prosseguir com algo. Também trabalhei — quando o fiz em espaços interiores — com espelhos movimentando-se no espaço; eu estava interessada no modo como a percepção que o público tinha do espaço era alterada pelos espelhos em movimento.

Richard Serra, Shift, 1970-72.
|
OF - Nesse campo de trabalho relacionado com a distância, há uma peça de exterior de Richard Serra (“Shift”; de 1970-72) e que penso que foi importante nessa altura…
JJ - Bom, penso que havia um grupo de artistas, como sabe, a trabalhar no exterior, a trabalhar no deserto. Esta peça [de Richard Serra] tem a ver com a percepção da terra, de como esta pende em direcções diferentes e como isso afecta a tua percepção não de um objecto mas de uma acção.
Havia um grande interesse nas obras da cada um de nós, até porque em New York toda a gente se conhecia, os bailarinos, os artistas plásticos, os músicos, os compositores. Então, o que realmente me interessou na performance foi que eu podia trabalhar com todos estes elementos diferentes, também devido à minha formação em artes visuais.
OF - Tem uma experiência anterior ligada às artes visuais, como historiadora...
JJ - Eu estudei História da Arte e Escultura, fiz escultura e estudei arte; estava muito envolvida com a história da arte, portanto o meu trabalho estava também relacionado com isso.
OF – Mas, tal como alguns artistas ligados às artes visuais eram contra, de uma certa maneira, a escultura minimalista, também encontrávamos esse tipo de situação nos campos da performance e da dança?
JJ - Eu estava interessada em afastar-me da tradição minimalista se bem que o meu trabalho tenha um certo tipo de formalidade na sua concepção, na coreografia e também na construção dos adereços e dos objectos, que provavelmente se relaciona um pouco com o minimalismo. Eu também fui criando a partir de coisas do cinema (do cinema francês, do primeiro cinema francês, do primeiro cinema russo, do cinema italiano), da literatura — já que usei Borges na minha primeira peça…
OF - Jorge Luis Borges... E quando fala de cinema é mais o trabalho experimental — ou mesmo social — de russos como Eisenstein, Dziga Vertov ou, mais tarde, dos franceses como Godard e outros, não é verdade?
JJ - Sim, mas essencialmente, no início, Jean Vigo, Georges Franju, e também os russos, todos os russos foram muito importantes para mim.
OF – Foram importantes para o seu trabalho no aspecto da montagem ou no aspecto da relação com o público como agit-prop?
JJ - Bem, em parte na montagem. Porque construí as minhas performances, porque tinha que me referir a alguma arte do tempo nas minhas performances, então reportei-me ao cinema. Usei a ideia de montagem, cortei de uma cena para outra e usei também a ideia de sequência de cenas (mise-en-scène). Quando comecei a trabalhar em vídeo continuei a fazê-lo dessa forma, fingindo fazer pequenos filmes nas minhas gravações em vídeo. Quando comecei a actuar usando vídeo (o vídeo que corria simultaneamente com a performance ao vivo) eu também produzia imagens, uma sequência de imagens. Portanto, gostava dos elementos líricos, ou melhor, dos elementos visuais de [Jean] Vigo, por exemplo. Fui influenciada pela forma como a câmara era usada por Eisenstein e por todos os outros, e pelas experiências que eles fizeram.
OF - Quem foi o responsável pela exibição desses filmes em New York e onde é que viu esse tipo de cinema?
JJ - Bem, não sei quem foi, originalmente, mas sei que havia um homem, chamado Jonas Mekas, que tinha um sítio chamado Anthology Film Archive, em New York. Eu costumava lá ir, era perto de onde eu vivia, no Soho. Antes disso, era num sítio chamado Public Theatre que até tinha assentos especiais feitos por Kubelka, forrados com veludo preto e com faces laterais elevadas, de forma a que não pudesses ver a pessoa ao teu lado. De qualquer modo, eu ia ao Anthology várias vezes por semana, todas as semanas. Foi aí que eu tive a minha educação cinematográfica, basicamente.
OF – As suas primeiras performances eram efémeras ou não? Executou essas performances várias vezes e em diferentes locais?
JJ - Eram efémeras, sim, porque eram performances. Mas também as fiz várias vezes em sítios diferentes. Fi-las repetidas vezes porque para mim não era apenas acerca de um gesto, era acerca do desenvolvimento de alguma coisa como, por exemplo, a sequência de imagens e acções. Levou-me, talvez, dois anos a terminar algo que ia mostrando à medida que o trabalhava e no qual introduzia alterações de cada vez que actuava.

Robert Morris, Waterman Switch, Judson Memorial Church, 1965.
|
OF - Havia algumas diferenças entre o seu trabalho e o trabalho de, por exemplo, Simone Forti ou Yvonne Rainer. Estavam todas a tentar ir na mesma direcção?
JJ - Não, acho que havia uma diferença porque Simone e Ivonne começaram como bailarinas. O centro do seu trabalho era a dança e ambas trabalhavam com artistas visuais no Judson [Memorial] Church, quero dizer, com Robert Morris, Robert Rauschenberg, Robert Whitman… Eu comecei um pouco mais tarde, vi o seu trabalho e fui inspirada por ele mas segui o meu caminho. O meu trabalho é mais relacionado com as tradições pictóricas e também com as ideias da escultura e penso que é por isso que se chama performance (performance art), porque é como que baseado na ideia de tableau. Portanto, o meu centro tinha uma origem diferente.
OF - E o seu conhecimento como historiadora de arte foi importante na construção dessa espécie de tableau? Há uma relação entre a história da arte e as suas performances?
JJ - É claro que observei a pintura e a escultura e que isso teve uma grande influência sobre mim. Quando eu construía, construía uma espécie de imagem organizada no espaço com objectos em movimento.
OF - Fez alguma referência específica a pintores ou a escultores?
JJ - Não em particular... Isto é, gostava muito de Giacometti, claro; mas nunca quis fazer referências directas, havia muitos elementos em todo o meu trabalho, muitos fios condutores, mas nada retirado de alguma pessoa em particular. Quis construir a minha própria imagem. Fui também influenciada pela poesia, por exemplo, pelos poetas imagistas americanos: Ezra Pound, William Carlos Williams, H.D.. Eu gostava do modo como o poema condensa o pensamento — tens várias camadas num poema e todo o meu trabalho era realmente construído dessa forma.
OF - E é o imaginário desses poetas a coisa mais importante nessa espécie de construção que refere, nessa espécie de cortes que fez no poema?
JJ - Sim, deu-me uma espécie de liberdade para construir, era intuitivo, não literalmente, mas muito relacionado com a maneira como o poema era construído. Depois das primeiras peças-espelhos — que eram bastante abstractas, se bem que inspiradas por Borges —, usei as ideias de identidade, persona e mulher. Eu procurava explorar assuntos ligados à identidade feminina e que se relacionavam com o Movimento das Mulheres, embora com uma certa fantasia.
OF - Não-política?
JJ - Acho que era apenas política porque explorava estas questões mas era diferente, nesse sentido, dessas pessoas que trabalham politicamente.
OF - Porque nos anos 60 esse tipo de movimento...
JJ - ...era muito importante.
OF - Muito importante nos Estados Unidos. Teve algum tipo participação nas manifestações contra a guerra do Vietname, por exemplo?
JJ - Não no meu trabalho; quer dizer, fui a algumas marchas quando as pessoas protestavam, mas nunca directamente como parte do meu trabalho.
OF - Fez uma distinção clara entre a sua posição como pessoa política e a sua posição...
J.J.: …como mulher. Penso que era importante politicamente para mim ser uma artista forte, e senti-me na altura dessa forma e, mais tarde, quando comecei a trabalhar com narrativas como contos de fadas e histórias, fi-lo sempre em relação ao papel da mulher em cada história, porque representava a mulher que há em mim, como performer. Esta foi sempre uma questão importante para mim.
OF - Lembro-me de uma fotografia sua… Nesse trabalho, no vídeo, estava nua e o espelho direccionado para si [“Mirror Check”, 1970, na Ace Gallery, LA]. Esse tipo de situação, nessa época, com mulheres nuas perante uma audiência… Era problemático? Não havia qualquer censura?
JJ - Não havia censura em New York nesse tempo e era apenas problemático… Seria difícil para mim fazê-lo, mas esse era o único problema e penso que outras pessoas actuaram também nuas. Penso que Carole [Schneemann] actuou nua... Usar o corpo é uma coisa natural para um bailarino ou um performer. Esse trabalho veio das peças-espelho, era como que a essência das peças-espelho. Estava interessada nas ideias de voyeurismo e auto-exame e tinha diferentes níveis para o fazer.
OF – E desenvolveu essa ideia com os adereços que colocou em cena?
JJ - Sim, comecei estranhamente com o material. Comecei com o espelho, ou muitos espelhos, com bailarinos ou performers andando com eles num espaço e o trabalho vem daí, interage com isso, improvisando e encontrando então o resultado através do material ou através do espaço, através da situação.
OF - E há alguma peça desses tempos que considere uma das mais importantes nesse tipo de trabalho que desenvolvia?
JJ - Sim.

Organic Honey's Visual Telepathy, 1972.
|
OF - Qual?
JJ - Bem, “Organic Honey's Visual Telepathy”, uma vídeo-performance (1972) que foi muito importante. Todo o conjunto de trabalho das peças-espelhos que fiz, algumas vídeo-performances com espelhos. Tive então uma ideia que atravessou todo o trabalho e que era a de fazer passar a imagem através de um espelho, talvez possa chamar-lhe transmissão. Então, com os espelhos, a imagem era reflectida no espelho e devolvida para o público e também para o espaço. Com o vídeo, a imagem passava através do circuito fechado de vídeo e no exterior a imagem era transmitida através da distância, sendo assim alterada. Ora, estava interessada não apenas na imagem em bruto mas em como a poderia alterar para o público.
OF - E usou espelhos planos?
JJ - Sim, tinham um metro e meio de altura e as pessoas seguravam-nos e movimentavam-nos no espaço.
OF - Li algures que havia alguma relação do seu trabalho com as danças índias Hopi.
JJ - Sim, nos anos 60 ou talvez antes, não tenho a certeza, mas algures por aí, fui ao sudoeste porque queria ver a dança Hopi da serpente. Tive muita sorte, vi a dança Hopi da serpente e outras duas danças, e isso teve um efeito profundo em mim. Havia rituais incríveis. Penso que o meu trabalho de exterior foi afectado por essas danças, o que também aconteceu no meu trabalho inicial e a meio do meu percurso. Provavelmente, ainda agora, para ser uma performer e encontrar uma razão para fazer algo para uma audiência ao vivo, eu continuo a relacionar-me com a ideia de ritual (que é de onde vêm originalmente a dança e o teatro).
OF - O que é que lhe parece ter causado tal impressão nessas danças Hopi? O movimento, a situação, a ambiência?
JJ - Tudo. Suponho que uma coisa é a relação da dança, do movimento e dos objectos com uma certa construção espiritual subjacente. Tem que haver alguma coisa, um sentido de energia espiritual que circule entre o performer e o público. Não havia nenhumas referências específicas no meu trabalho a isso, mas pressenti claramente, nessa época, esse sentido de comunidade no mundo da arte. Também fiquei impressionada com o modo como os adereços e os objectos são manuseados pelos performers e como eles se movem com os objectos e as roupas.
OF - A ideia da minha geração sobre alguma da arte que é produzida nos Estados Unidos é a de que há um certo tipo de censura por parte de instituições como o National Endowment for the Arts (NEA). A situação é hoje diferente face ao que acontecia anos 60 e 70?
JJ - Nesse tempo havia uma grande sensação de liberdade. No final dos anos 60, por todo o lado as pessoas se afastaram das instituições e procuraram romper com a ideia da individualidade da pintura e da escultura; a música e a dança aproximaram-se. Eu não considerava a existência de qualquer divisão ou linha de fronteira entre estas formas de arte; gostava de as combinar. Agora, especialmente nos anos 80, as pessoas começaram a regressar às suas disciplinas e as divisões surgiram de novo. Temos outra vez estas discussões acerca das diferenças entre pintura e escultura. Não havia muito dinheiro nos anos 60 e ao longo de toda a década de 70, mas não importava, não precisávamos de muito dinheiro e, na altura, também não havia censura. Bem, houve censura, por exemplo, com um maravilhoso artista de teatro e realizador chamado Jack Smith. Ele fez um filme chamado Flaming Creatures, viu-o? É totalmente inofensivo comparado com aquilo que nós vemos agora mas eles não foram autorizados a mostrá-lo, apenas porque havia pessoas nuas no filme. Era amoroso e lírico e... Portanto, era esse tipo de censura que havia na altura, mas não era… Também durante a guerra do Vietname se sentia que havia alguma coisa pesada a acontecer, e assistir a uma performance de Jack Smith era pois definitivamente underground e contra qualquer tipo de situação convencional ou institucional. A grande diferença é que agora o Governo já não financia o que quer que seja. Claro que há muita censura de um determinado tipo como com Serrano ou Mapplethorpe. A América é um país muito puritano porque não aceita a cultura como sendo parte natural da sociedade, a cultura não é uma coisa que tu aceites naturalmente nos EUA, é uma coisa pela qual ainda tens de lutar, por isso...
OF - E há o caso de Richard Serra...
JJ - Há muitas coisas que são difíceis...
OF - ... de entender. Mas desde os anos 60 até hoje quais são os temas principais ou as preocupações fundamentais que mantém no seu trabalho?
JJ - Bem, acho que terei desenvolvido lentamente ao longo dos anos uma espécie de estrutura, um modo de juntar as coisas, pode chamar-lhe um estilo. Ainda estou interessada por algumas das ideias básicas iniciais que têm a ver com o que é uma imagem e com o modo de construir uma imagem em relação com o tempo. Interesso-me pela tecnologia, pela forma como posso trabalhar com ela e como isso altera a imagem ou a narrativa. O que tenho desenvolvido é mais o sentido da narrativa e o modo de contar uma história; foi algo que apareceu no meu trabalho nos anos 80. Comecei a trabalhar com histórias e contos de fadas. Mas, penso que as abstracções formais ainda estão presentes no meu trabalho… E como dou aulas, os meus alunos, sabe... Jovens artistas que estão agora interessados em todo o meu trabalho dos anos 70. E, então, nos últimos anos tenho vindo como que a reciclar algumas das minhas ideias iniciais. Provavelmente tive que fazer isso por causa do ensino.
OF - É curioso que fale acerca de contos de fadas e narrativas porque as ficções de Borges são quase contos de fadas.
JJ - No meu trabalho inicial eu também faço referência à mitologia, apesar de isso não ser óbvio. Mas eu usei a mitologia como uma espécie de referência e inspiração subjacente. Eu nunca trabalhei com a ideia de um Deus ou de uma Deusa, ou algo parecido, mas apenas trabalhei a ideia de como o mito entra na arte, por exemplo, em James Joyce. A maneira como ele usa a história de Ícaro para representar este jovem, Stephen Dedalus. Sim, era uma metáfora — Stephen Dedalus — e isso influenciou-me muito, esse uso do mito na literatura.

|
OF - E sobre aquilo que vai fazer na exposição, no museu, o que é?
JJ - Vicente [Todolí] convidou-me para vir porque alguns dos meus vídeos iniciais estão a ser mostrados aqui. "Vertical Roll", da série “Organic Honey”; e há sempre também a questão de como exibir o vídeo. Nos anos mais recentes tenho vindo a fazer estas peças a que chamo “Minor Theatre”. São teatros em miniatura, caixas feitas em madeira com a forma de um túnel. Quando olhamos para dentro da caixa podemos ver uma projecção vídeo de uma performance ou de um vídeo que eu fiz. Então, o que faço aqui? Fui convidada a construir duas destas caixas, uma para uma das minhas obras ("Vertical Roll") e outra para algumas peças de dança, como Simone Forti, Yvonne Rainer e Merce Cunningham. Estou então a construir caixas maiores que têm 210 por 270 cm, caixas muito maiores, para que se olhe para dentro da caixa e se veja o trabalho vídeo. É como um pequeno teatro só que é um objecto no espaço, também porque toda a gente está cansada do monitor. As caixas são boas para esta situação em particular porque protegem o vídeo da luz e então podes ter uma imagem projectada e ser capaz de a ver num espaço onde há luz.
OF - Mas é possível ver os vídeos sozinho?
JJ - Não, a caixa é aberta à frente. É como uma grande moldura, a própria caixa protege a imagem da luz. Mas é um objecto em si mesmo. Vou desenhar um banco para a minha peça e, no Auditório, a caixa vai parecer um objecto no palco, que contém a peça vídeo.

Vertical roll, 1972.
|
OF - Como esculturas... "Vertical Roll" é uma das peças a ser exibida. Como é esse trabalho?
JJ - "Vertical Roll" é uma peça que eu fiz em 1972. A razão porque se chama "Vertical Roll" deve-se à existência no vídeo de uma barra [horizontal] em rotação que é uma disfunção televisiva. Eu fiz uma peça que é estruturada por essa barra mas que é uma parte da performance, por outras palavras, eu fiz um trabalho que tem a duração de cerca de 20 minutos e no qual eu actuo a partir da barra em rotação; todas as minhas acções estão relacionadas com essa barra, a barra em movimento de rotação. Nesse vídeo "Vertical Roll", por exemplo, ao usar roupas e objectos — esses são da performance — estava a fazer trocas, nos dois sentidos, entre a performance e os vídeos. Alguns dos vídeos resultaram de performances e algumas das performances resultaram do trabalho com o vídeo. As acções deste vídeo são parte da minha performance ao vivo.
(Segundo dia: 13. 05. 99)
OF - E acerca da sua relação com o trabalho de Richard Serra…?
JJ - Era alguma coisa que para mim pairava no trabalho de Richard [Serra] e outros que trabalhavam com os mecanismos de percepção [doors of perception], as formas e a relação com a paisagem e contornos da terra. Aquilo que ele fazia era ligeiramente diferente daquilo que eu fazia, porque ele instalava formas esculturais na paisagem, não lidava de todo com a distância da mesma maneira. Mas eu conversei bastante com ele acerca do seu trabalho e vi algumas das peças serem instaladas. Também fomos juntos para o deserto com Philip Leider, que foi o editor da Art Forum em 1970 ou 71. Fomos com Phil Leider a Las Vegas para ver a peça de Michael Heizer “Double Negative”, o que foi uma experiência muito interessante. Fomos a Salt Lake City, onde [Robert] Smithson estava a desenvolver a sua ideia para a “Spiral Jetty”… É claro que eu estava envolvida num diálogo com respeito a estes trabalhos de exterior.

Wind, 1968.
|
Eu julgo que as danças Hopi influenciaram os meus solos em meados dos anos 60 e, então, a minha primeira peça realmente de exterior surgiu em 1968 (“Wind”). Filmei a minha performance na praia, em Long Island. Era Inverno e havia neve no chão, estava muito frio e nessa época eu trabalhava com essas roupas em que tinha colocado espelhos — a tal peça que se relacionava com Borges. Eu retirei do livro chamado “Labirinto” todas as citações que tivessem a ver com espelhos e, finalmente, juntei-as. Depois, memorizei essas frases e recitei-as durante a performance — isto não estava no filme mas estava na performance. De qualquer forma, a peça de exterior não tinha o texto de Borges, era silenciosa. É uma peça de 7 minutos chamada "Wind" que apresenta um homem e uma mulher vestidos com as roupas-espelhos, movendo-se muito rigidamente ao longe, enquanto cinco ou sete outros bailarinos fazem movimentos muito coreografados em primeiro plano e em diferentes partes da paisagem. Havia uma forte ventania e então trabalhámos com o elemento do vento, no exterior. Isto foi antes de saber o que quer que seja do trabalho de exterior de Richard [Serra] mas eu já conhecia o [Robert] Smithson…
OF - É curioso que tenha havido um grupo de artistas, que vivia em New York, buscando a paisagem. Qual a razão para essa necessidade de procurar lugares fora de New York?
JJ - Eu penso que, em primeiro lugar, é provavelmente uma parte da americanidade; também porque Richard [Serra] é da Califórnia. A paisagem é muito importante para os americanos porque é um vasto, gigantesco espaço com qual estamos muito envolvidos no nosso imaginário. Penso que encontra nos escritos de Charles Olson ou [Herman] Melville este vasto espaço, a ideia da vastidão do espaço, que é muito diferente da ideia europeia de paisagem, porque essa foi tocada e povoada. A América estava intocada, era um território que não carregava um passado e penso que isso é parte do imaginário americano, encontra-se lá desde a infância. Mesmo vivendo em New York, S. Francisco ou Los Angeles está-se consciente do espaço exterior, o que leva à existência de um desejo inato de sair para esse espaço. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nessa época, nos anos 60 — não tenho a certeza do porquê ou de como aconteceu —, houve um desejo de trabalhar em territórios sem qualquer carga anterior. Para mim era a mesma coisa trabalhar lá fora, fazendo performance no exterior, ou fazer performance e trabalhar em vídeo. Estes eram também territórios relativamente descomprometidos, que não estavam confinados por qualquer tipo de concepções ou enquadramento.
OF - Mas porquê a necessidade de seguir esse percurso crítico face ao minimalismo, por exemplo?
JJ.: Eu penso que foi simultâneo. Para mim foi ligeiramente diferente, as minhas preocupações são um pouco diferentes das de, digamos Richard [Serra] e [Robert] Smithson, porque trabalho numa área um pouco distinta. Um aspecto importante do minimalismo é que este envolvia o espaço em que a escultura se encontrava; era também acerca do espaço e o objecto era apenas um aspecto do minimalismo. [Richard] Serra usa formas minimalistas mas de uma maneira diferente e ele leva, suponho eu, essa ideia muito mais longe, ao utilizar a arquitectura das salas, através das placas nos cantos e do revestimento; as peças dependem elas mesmas de cada uma das partes para se manterem em pé… Realmente não devia citar-me acerca deste trabalho porque nunca tentei descrevê-lo dessa forma. Provavelmente, eu ia contra o minimalismo de uma maneira muito diferente da deles. Mas eu não sei se posso falar por eles…
OF - Talvez seja um dos primeiros artistas a usar o vídeo na performance, tal como Bruce Nauman também o usou em algumas das suas performances…
JJ - Sim, Bruce [Nauman] usou vídeo no seu atelier e de uma maneira que era natural para as pessoas que primeiro arranjaram o seu vídeo. Conseguiam essas câmaras chamadas Portapac, e a coisa mais natural era montar a câmara, filmarem-se a si próprias — ninguém se tinha visto assim antes ou tinha sido capaz de fazer desta forma a gravação e a reprodução imediatas — e verem-se imediatamente nesta situação de circuito fechado. Então, o resultado material da interacção de alguém com esse sistema seria fazer como o Bruce [Nauman] fez. Andy Warhol antecipou o elemento tempo nos seus filmes — ele realmente antecipou muita coisa no seu trabalho — mas nós não sabíamos isso. Talvez o tenhamos feito inconscientemente, mas havia algumas peças que nós não conhecíamos e que apenas agora começam a ser mostradas.
De qualquer forma, no final dos anos 60 e nos 70 as pessoas estavam a trabalhar nisso. Eu acho o trabalho do Bruce [Nauman] realmente interessante; ele actuou para si mesmo no estúdio. É ligeiramente diferente do meu trabalho, os monitores de vídeo nas suas instalações, como os corredores. Eu usei-os de maneira algo diferente nas performances ao vivo. Fiz, também, trabalhos apenas com um canal vídeo; e sentava-me em frente ao televisor, olhando para mim mesma fazendo diferentes tipos de acções. Mas havia similaridades no modo como trabalhávamos sozinhos no nosso estúdio.
OF - Era barato trabalhar com vídeo na altura?
JJ - Barato? Sim, muito mais barato do que o filme porque podias comprar uma cassete e podia ser durante uma hora, meia hora, podia passar continuamente. Isso foi importante em termos formais, o tempo contínuo. Tornou pessoas como eu capazes de produzir imagens em movimento.
OF - E os críticos?
JJ - Não houve muita gente a escrever sobre o meu trabalho, porque se tratava de uma forma comparativamente nova, o que foi uma espécie de desvantagem para mim. O primeiro crítico que escreveu sobre o meu trabalho foi Jonas Mekas, apenas uma pequena coisa na Village Voice. Eles pensaram que não sabiam como escrever sobre a performance e o vídeo. Como é que um crítico de artes visuais escreve acerca disso?
OF - Conte-nos alguma coisa acerca da sua viagem ao Japão. Considera essa viagem extremamente importante para o seu trabalho?
JJ: Essa viagem? Foi muito, muito... porque nunca tinha estado antes num país oriental e fomos ao teatro quase todas as noites, ao Teatro Noh. O Teatro Noh é um lugar muito poético, abstracto e visual, especialmente se não percebermos a língua, já que olhamos para ele de uma maneira diferente; é como uma dança e para mim foi muito importante porque o meu trabalho estava relacionado com isso de muitas maneiras diferentes — a visualidade abstracta, uma espécie de teatro baseado no movimento e no ritual.
OF - Outra coisa que tenho para lhe perguntar é sobre a relação a que se referiu ontem, com poetas como Ezra Pound e os imagistas. É possível traduzir poesia em movimento? Até que ponto?
JJ - Veja, as minhas peças são realmente sobre como fazer um trabalho no tempo; o meu trabalho é composto de uma série de acções numa imagem, usando adereços e objectos, que conta uma história que pode ser poética. E um poema é como que significado condensado e… Como dizer isto? Bem, tal como as imagens é também relacionado com ícones no sentido em que há uma metáfora e em que existe sempre uma comparação entre uma coisa e outra. Por exemplo, “bater no espelho com uma colher”. Num dos meus trabalhos vídeo, eu estava a bater no espelho com uma colher e isso representava raiva só que transformada noutra coisa, numa abstracção. É muito bela, no vídeo, a colher de prata batendo no espelho. E, também, ouvir ao vivo este som de metal a bater no vidro. Faz muito barulho. Começa como uma espécie de impulso que tem a ver com essa raiva e então transforma-se noutra coisa. Numa outra peça, "Organic Honey's Visual Telepathy", eu estava interessada na magia. Outra coisa que me influenciou foram os espectáculos de magia, o modo como os mágicos faziam truques. Estava interessada em expor a ilusão, em mostrar como fazia as coisas e actuava para a câmara. Eu estava constantemente a mapear imagens para a câmara, para o público, estava a interpretar esse papel, fingia ser… Usava máscaras e roupas para me disfarçar e me transformar noutra personagem que não a Joan Jonas. Porque não queria ser apenas a Joan Jonas, queria entrar num mundo de fantasia e criar uma espécie de mundo de teatro de fantasia na performance. Posso apenas dizer que é como um poema visual e quando eu digo que os poemas têm uma estrutura, isso é aquilo que me interessa, o modo como o poema está estruturado, como é o caso da disposição das palavras na página. É como a poesia concreta, um pouco. Aqui está a página e aqui estão quatro imagens nessa página: aí está a minha performance. E essas coisas inter-relacionam-se umas com as outras, sobrepõem-se, quando são colocadas juntas há outro sentido a aparecer, que é, talvez, não-verbal.
OF - Outra coisa é a influência do cinema no que respeita à montagem. Toda essa ideia de cortar linhas que estavam antes no poema… Esse tipo de ruptura é também importante para a construção da sua performance ou...?
JJ - Quando comecei, por exemplo, com a peça de exterior "Jonas Beach Piece", pensei a estrutura como algo parecido com contas presas num fio, uma coisa depois da outra e havia apenas um corte entre cada uma sem nenhuma tentativa de as ligar. Fazer a energia fluir de uma coisa para a outra, não tentar uma transição suave, estetizada. Seria apenas o Pam! [Joan Jonas dá uma pancada na mesa] — ir para a acção seguinte. Mais tarde comecei a sobrepor as acções e a tornar as transições mais complicadas. Então, para o público às vezes é um bocado chocante, porque vai haver um corte abrupto, mas gosto dessa qualidade de choque do acto de cortar.
OF - Ainda faz performance, hoje em dia?
JJ - Sim, faço, mas não tantas. Estou a trabalhar mais com a instalação porque não posso viajar de um lado para o outro e ter a minha obra a existir apenas quando estou presente fisicamente. Gosto de não estar presente e deixar alguma coisa algures. Mas estou a começar a trabalhar em algumas performances bastante extensas…
OF - Representa hoje o computador algo de novo no campo da performance como aconteceu com o vídeo nesse tempo?
JJ - Para mim ainda não.
OF - Porque eu vi o Merce Cunningham, por exemplo, e ele usa o computador para construir...
JJ - Não, dessa forma não o uso, mas os programas são muito úteis, especialmente para os bailarinos coreografarem as coisas no espaço. Claro que é interessante. Ainda estou a trabalhar nisso. Eu tenho um computador e vou trabalhar com o MIT [Massachussets Institute of Technology], que penso ser um sítio interessante para tentar desenvolver alguma coisa, actualmente. Vou tentar trabalhar com outras pessoas no MIT. O CD-ROM mais interessante que vi até agora era de William Forsythe, Director do Ballet de Frankfurt. Ele fez um CD-ROM sobre a sua técnica coreográfica que é realmente muito bom. Está muito bem feito e permite-te brincar com os movimentos do bailarino, é mesmo maravilhoso. Para mim não é para já, mas talvez no futuro.
OF - Nos anos 60 quem é que também fazia performance? Carole Schneemann?
JJ - Ivonne Rainer, de um modo diferente, era mais como dança mas tinha elementos que eram visuais, porque ela colaborou com Robert Morris. Havia uma peça muito importante chamada "Waterman Switch", de Robert Morris, que ele e Yvonne interpretavam juntos. Era uma peça muito bonita. E Robert Whitman, muito bonito, chamavam-lhes happening; mais tarde chamaram-lhe performance art, ou algo assim.
OF - Mais tarde...?
JJ - Eu estava em New York a trabalhar, estava a fazer escultura e vi um trabalho de Lucinda Childs. Disse imediatamente a mim mesma "tenho que fazer isto, é isto o que eu quero fazer; quero fazer performances". Chamei-lhes peças, não lhes chamei performances porque eu ainda as relacionava com outras formas como a música, o cinema e a poesia.
OF - Mas isso não se relacionava com a escultura que fazia?
JJ - Sim, também com a escultura. Mas mudei completamente, abandonei totalmente o que estava a fazer na escultura e então comecei a trabalhar comigo mesma no espaço em relação com os objectos e roupas.
OF - Penso que se pode alargar a ideia do happening a Allan Kaprow — foi um dos primeiros a fazê-lo — e também John Cage e Robert Rauschenberg…
JJ - Todas estas coisas começaram de facto com o movimento DADA, diria eu; e os futuristas. Todos eles fizeram performances, os futuristas, os construtivistas. A performance entra e sai de foco, no que respeita às artes performativas, vai e vem.
OF - A tradição fala de uma mudança de paradigma na história da arte nos anos 60. É claro para si que a primeira mudança de paradigma na história da arte ocorreu no início deste século com os movimentos de vanguarda? Pensa que a história tem um fluxo que vai e vem, em que um paradigma volta passado algum tempo?
JJ - Absolutamente. Penso que é interessante estar no fim do século XX, agora, porque estamos a olhar para trás. As pessoas interessadas na história olham para trás. Para ver as transformações, penso que também é interessante reparar que o século XX começou antes disso. [Marcel] Duchamp é uma influência fundamental, e é interessante ver todos esses fios condutores por todo o lado, usados e desenvolvidos por diferentes pessoas, de diferentes formas. Foi isso que aconteceu.
OF - Qual pensa que foi a evolução da performance depois daquilo que fez nos anos 60 e 70?
JJ - Nos anos 80 houve duas coisas que se relacionaram: (1) um maior interesse na cultura mais popular, por isso a performance começou a trabalhar especificamente com a ideia de espectáculo; (2) estando também mais envolvida com a ópera. Por exemplo, Robert Wilson era mais um artista do teatro, diria eu, trazendo o teatro para dentro da ópera, para dentro desta forma de arte maior. Esse foi um dos caminhos. E agora, nos anos 90, porque os jovens artistas e estudantes estão a olhar para trás, para os anos 70 e, num certo sentido, revoltando-se contra os anos 80 — mas também conjugando coisas dos anos 70 e 80 —, é uma espécie de reunião ou de síntese. Senti desde o final dos anos 70 que nós estávamos numa espécie de período maneirista, porque quando estudava história da arte estava interessada nessa Teoria de Wolfgang, o Pam! [Joan Jonas dá outra pancada na mesa]. Para mim isto era como uma espécie de período maneirista, de um olhar para trás e citar, reactualizando formas antigas e reciclando formas do passado. E para os estudantes que trabalham com performance, essas ideias estão no seu trabalho mesmo que não estejam a fazer performance. Por isso, não penso que existam muitos jovens artistas ligados à performance porque eles preferem fazer outras coisas. Comercialmente não é uma forma viável; é muito difícil. Todavia há uma forte influência e se faço um workshop eles estão muito interessados em participar; eles querem fazer performance. Mas muitos deles estão a usar as ideias no vídeo, na instalação; é apenas parte do vocabulário. Penso que (talvez também seja uma explicação) as pessoas querem voltar a qualquer simples, que possam controlar com os seus próprios corpos, que possam tocar. E é talvez por isso que a performance está a regressar.
Penso que também é interessante esta relação com a televisão para o grande público porque nos anos 70 nós tínhamos — as pessoas que trabalhavam em vídeo — essa esperança de que seríamos capazes de interceptar e fazer parte da televisão. Gradualmente isso tornou-se impossível, em certo sentido. E então, há agora uma separação entre vídeo arte e televisão; nos anos 70 pensávamos que se iriam juntar de alguma maneira; agora estamos a trabalhar simultaneamente contra ela e no seu interior.
A outra coisa sobre a qual eu quero falar — isto relaciona-se com outra questão que me colocou sobre o modo como começo as minhas peças — é-me difícil de dizer, pois há uma parte em mim que se expressa na performance e que eu nunca consigo exprimir verbalmente. É sobre agir de uma maneira diferente e é sobre entrar numa zona que não é a do funcionamento normal do mundo do dia-a-dia; e podemos usar a fantasia e podemos fingir que somos uma outra pessoa e criar todo um mundo a partir de... A primeira coisa que faço é construir ou procurar um espaço para mim mesma; reclamo-o como meu espaço e movo-me nesse espaço; e depois talvez traga música e som, e essa música e esse som levam-me a dançar ou a movimentar-me com o adereço — quando encontro um adereço que tenha a ver com a história que estou a usar. Todos esses elementos juntos permitem-me criar uma espécie de personagem, ou a ilusão de uma personagem ou persona dentro do contexto da performance. É para mim muito importante abandonar a minha vida do dia-a-dia e entrar numa espécie de mundo de fantasia de que eu gosto muito, e que é totalmente diferente do meu mundo quotidiano.
OF - É como a Alice de Lewis Carrol.
JJ - Sim, é muito como “Alice do outro lado do espelho”, exactamente. É isso que me inspira em "L'Atalante", de [Jean] Vigo. E no filme de [Jean] Cocteau, "A Bela e o Monstro". É outro mundo de fantasia, é outro mundo mágico. Eu estava interessada em criar esse mundo e mostrá-lo à audiência, trazer o público para o meu mundo privado, porque é isso que muita gente diz do meu trabalho. Algumas pessoas ficam mesmo desconfortáveis porque se sentem como se estivessem no meu mundo privado.
OF - Penso que os críticos, a maior parte dos críticos americanos hoje em dia, têm uma clara preferência por outro tipo de performance não tão poética como a sua, mais objectiva, como as performances de Paul MacCarthy e de Mike Kelley, por exemplo. Acha que a poesia pertence aos anos 60 e 70 e depois esses outros artistas como MacCarthy e Mike Kelley tentaram lutar contra a comercialização da arte fazendo algo que é abjecto?
JJ - Penso que sim, absolutamente. Penso que não há assim uma tão grande distância entre o meu trabalho e o deles. Estão muito mais empenhados em lidar com essas outras questões a que chama abjectas, é verdade. Mas se eu digo que o meu trabalho é poético eu não quero dizer que o seja num sentido romântico, apenas me refiro à sua estrutura. Eu tento mostrar coisas muito pessoais mas não de uma forma autobiográfica. O modo como Mike Kelley … ele já não o faz assim tanto, é difícil para ele, mas eles estão muito ligados ao Rock & Roll. O Mike Kelley está ligado a esse mundo da música. Definitivamente, eles são a próxima geração reagindo contra a estética. A minha geração, que não é assim tão velha, é como que a década de reacção. Penso que eles gostam do meu trabalho, só que eu não tenho feito assim tanto trabalho; funcionas em ciclos, como indivíduo, trabalhas muito e depois não trabalhas e depois começas de novo.
OF – Mas eles são mais violentos nas suas performances. Eles fazem-no, penso eu, contra uma certa sociedade puritana da América. Algo que a Joan Jonas também faz, mas talvez de outra forma.
JJ – Bom, quando eu comecei, o meu trabalho era nessa época perturbador para algumas pessoas, mas não estava a tentar... Sim, fi-lo de uma forma diferente, num estilo totalmente diferente. Eles fazem-no num estilo mais extremo, muito mais extremo à superfície…
Transcrição das gravações: Joana Mateus
Edição, tradução e revisão: Joana Mateus e Miguel Leal
Virose.org 2004/2005
*Óscar Faria é crítico de arte e jornalista do Jornal Público.
última actualização 16.07.08
|